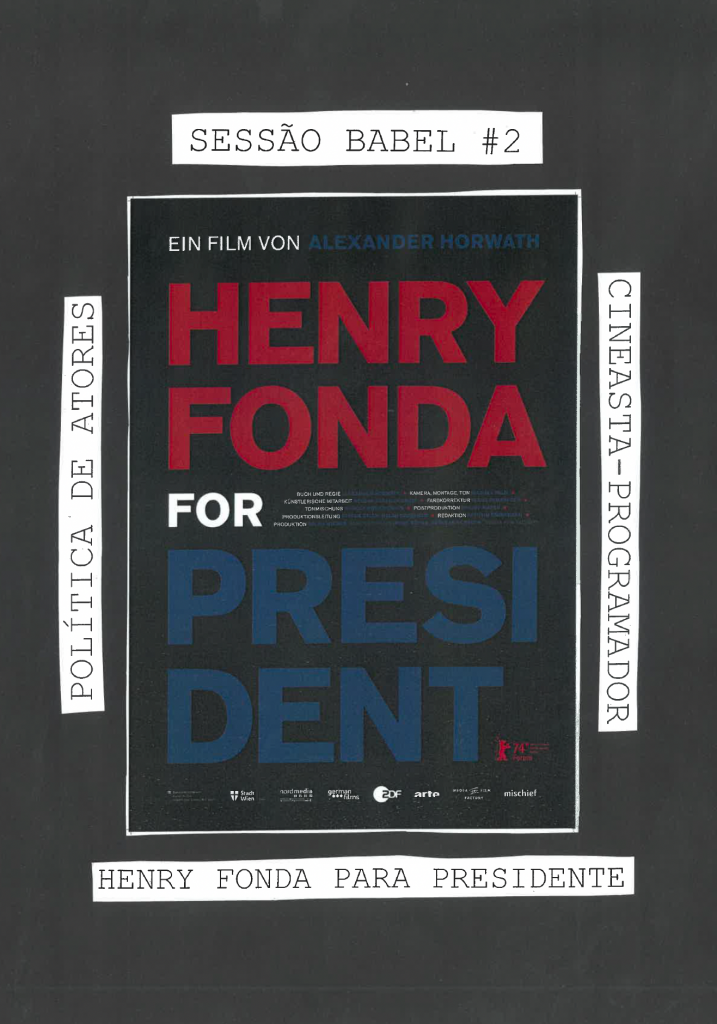
Sumário
Apresentação Sessão Babel #2: Política de atores e o cineasta-programador, por Gabriel Linhares Falcão
“Oh Jesus Christ, it’s Henry Fonda!”: Política e ator, uma união não tão improvável, por Letícia Weber Jarek
Depoimento do diretor, por Alexander Horwath
Sonhos e fatos, Fonda e a América, por Alexander Horwath
A última entrevista de Henry Fonda, por Lawrence Grobel
Notas de programação para Henry Fonda para presidente (Il Cinema Ritrovato, 2020), por Alexander Horwath
Programação, minha bela inquietação, por Leonardo Bomfim Pedrosa
Entrevista com Alexander Horwath: Sobre Programação e Cinema Comparado, por Álvaro Arroba
A promessa do cinema, por Alexander Horwath
Algumas notas sobre uma “Utopia do filme”, por Alexander Horwath
Fotos das filmagens de Henry Fonda para Presidente, por Alexander Horwath, Michael Palm e Regina Schlagnitweit
Apresentação Sessão Babel #2: Política de atores e o cineasta-programador
por Gabriel Linhares Falcão
Na segunda edição da Sessão Babel, apresentamos o filme Henry Fonda para Presidente (2024). Com uma longa estrada no cinema, da direção da Viennale (1992-1997) a do Österreichisches Filmmuseum (2002-2017), o escritor, curador e historiador austríaco Alexander Horwath direciona sua experiência para a realização de seu primeiro longa-metragem. Sua premissa é bastante simples, uma hipótese: o ator Henry Fonda poderia ter sido o candidato de oposição perfeito contra Ronald Reagan, também ator, nas eleições de 1980. Na outra face da simplicidade, há um desdobramento infinito: investigar minuciosamente o passado em prol do imaginário e, no processo, realizar um levantamento de utopias pregressas para melhor entender os campos de forças políticas e socioculturais que moviam as engrenagens estadunidenses. “Possibilidades que a história não considerou dignas de serem exploradas” (Kracauer, citado por Horwath em A Promessa do Cinema).
A chegada dos primeiros Fondas da Holanda aos Estados Unidos forma um preâmbulo e a vida de Henry Fonda dá a linha de cronologia a esta investigação. Um filme-ensaio argumentativo que avança visando duas constatações. Uma completamente possível: Fonda é um ator-autor. A outra, por mais perto que se aproxime em diversos momentos, nunca se concretiza fora das telas: Fonda como ator-presidente. Henry Fonda, segundo ele mesmo, “não possui boas respostas para nada”. Já nós, espectadores, ouvimos evidências do oposto em diversos registros e somos conduzidos a nos juntarmos em prol dessa fantasia presidencial. A ideia se apresenta cada vez menos a nível pessoal do diretor e cada vez mais no imaginário público. O ator, com toda sua timidez, parece fugir da possibilidade, sempre flertando com o perigo mas sem nunca ser pego; a concretização é o limite a não ser ultrapassado. As palavras de John Steinbeck sobre o ator poderiam descrever também a relação de Fonda com a presidência: “minhas impressões do Hank são de um homem que quer alcançar mas é inalcançável”.
Alexandre Horwath viaja aos Estados Unidos ao lado de Michael Palm e Regina Schlagnitweit para filmar os lugares em que Henry Fonda e os Fondas viveram, os lugares utilizados ou representados como cenários em seus filmes, constituindo um longo road movie pelo largo território estadunidense. O presente é extremamente discrepante dos passados vistos nos filmes, muitas vezes se apresenta como terra arrasada pelo antidemocrático capitalismo, com direito a um falso Donald Trump performando nas noturnas ruas nova-iorquinas. O passado entrecorta o presente por três vias: a do pretérito em si mesmo (os filmes em seus contextos da época; o historiador), a do passado em tensão com o presente (os filmes de outrora no contexto atual; o programador), o futuro do pretérito (todas as utopias hoje relegadas ao passado; o crítico).
Henry Fonda para Presidente é certamente o filme de um escritor, programador, historiador, além de um cineasta, em que vemos todas estas faculdades em operação conjunta. Antes de se tornar filme, o projeto se apresentou como programa no Il Cinema Ritrovato, em Bolonha, no ano de 2020. Uma retrospectiva centrada na figura de Henry Fonda com recorte que privilegiava um arco específico: filmes que encapsulam o “best man”, o “wrong man” e o “man with no name”, ao mesmo tempo.
No dossiê que acompanha a nossa sessão, apontamos para algumas direções. A política dos atores se apresenta como campo de pensamento evidente. O termo, que ganhou notoriedade principalmente com o livro de mesmo nome escrito por Luc Moullet (1), propõe uma recentralização da tradicional política dos autores. Gestos, posturas, modos de falar, olhar, andar, o uso das mãos, as expressões, seus papéis; entre alguns outros aspectos também alvos de atenção. Os contextos que acompanham estas produções (um ator costuma fazer muito mais filmes ao ano que um diretor), suas possíveis autoridades e autonomias enquanto produtores de seus próprios filmes, suas filiações recorrentes a cineastas específicos são levantamentos considerados no debate e na defesa de suas autorias. Extrapolando a política dos atores, o filme se estende ao campo eleitoral propondo uma política de atores, abrindo margem para uma série de estudos atorais, desde a biografia ao estudo da persona, à figura pública inserida, propulsora e intervencionista do imaginário público.
Outro caminho que se apresenta é o do cineasta-programador: pensar a montagem e o discurso proximamente ao ato de programar filmes. Recuperamos textos e entrevistas que elucidam ideias sobre cinema de Horwath que podem reverberar em Henry Fonda para Presidente. Por exemplo, sua preferência por pensar a programação não em termos espaciais (um filme ao lado do outro), mas temporais (um filme após o outro); seu maior interesse nas discrepâncias entre os filmes que nas similaridades. (2) Ou suas muitas manifestações a respeito da “utopia do filme” (3), que “reside num entendimento do cinema que permita a suas formas amplamente diferentes — e suas amplamente diferentes formas de inteligência e beleza — coexistir de maneira produtiva” (Horwath em Algumas notas sobre uma “Utopia do filme”). E seu forte senso de preservação e conservação: “Para repassar esse legado ao futuro, será necessário manter a ‘impura constituição genética’ do cinema intacta, assim como é necessário manter intactos os parâmetros tecnológicos-estéticos (seu ‘código genético’) pelos quais a mídia fez sua impressão no mundo”. Vemos, em Henry Fonda para Presidente, como o ator é estudado para além das obras cinematográficas, em concomitância a uma série de registros — longa-metragens ficcionais, séries de TV, documentários de guerra, propagandas publicitárias, talk shows, filmes caseiros, etc. Reconhece-se o mar de imagens em movimento em disputa de atenção com o cinema e a consequente necessidade de abertura e depuração na recepção destas, possibilitando assim a coexistência produtiva por meio da elucidação de seus “códigos genéticos”.
A recuperação do material de Horwath no nosso dossiê visa não só disponibilizar um rico material inédito em português que abrange campos distintos de atuação no cinema, mas também perceber, lendo-os em 2025, que uma utopia já se manifestava nestes textos de outrora, ainda tão atuais. Utopia que já era perceptível e que felizmente se concretizou: Alexander Horwath para cineasta.
Letícia Weber Jarek abre a primeira parte com um texto abordando o filme pela chave da política dos atores. Leonardo Bomfim Pedrosa abre a segunda parte abordando-o pela figura do cineasta-programador. Revisões feitas por Beatriz Pôssa. Traduções do inglês por Gabriel Linhares Falcão e João Lucas Pedrosa, do espanhol por Leonardo Bomfim Pedrosa e do alemão por Lucas Saturnino. Agradecemos a todos os colaboradores que uniram-se com entusiasmo e novas ideias, possibilitando a entrega de um dossiê muito maior e rico do que planejado inicialmente.
Agradecemos imensamente a Alexandre Horwath, Michael Palm, Regina Schlagnitweit, Marion Schirrmacher e a MISCHIEF Films por todo apoio na exibição, pelo compartilhamento de materiais textuais e fotos das filmagens, além do evidente entusiasmo com o projeto. Agradecemos também a Aaron Cutler e Mariana Shellard (Mutual Films) e a Cláudio Silva (Mostra Internacional de Cinema de São Paulo) que nos ajudaram a tornar a sessão possível. E como sempre, o apoio imprescindível de Ruy Gardnier e da Cinemateca do MAM, sede das nossas sessões.
___________
1 O livro Politique des acteurs (1993), de Luc Moullet, não é fundador da expressão nem do campo de estudos. O termo já havia sido utilizado muitas vezes aqui e acolá em revistas como Positif e Cahiers du Cinéma, além da variação feminina, política das atrizes, também já ter sido usada. Entretanto, é inegável o papel do livro no impulso da expressão à notoriedade, sendo um dos primeiros, possivelmente o primeiro, estudo extenso e conciso sobre o tema. O livro está disponível integralmente em inglês no blog The Seventh Art, assim como quase toda a obra de Luc Moullet, com tradução do crítico Srikanth Srinivasan: https://theseventhart.info/2020/04/03/politique-des-acteurs/
2 Vide o texto que acompanha esta seleção de Alexander Horwath à convite do MUBI Notebook em 2019 (época em que Henry Fonda para Presidente estava em produção): “Considerando que a) este convite visa fornecer ‘uma criação instantânea do que assisti este ano’ e b) acredito que todas as manobras curatoriais pretensiosas devem ser evitadas, só posso dizer que assisti muito a [Henry] Fonda e [Guy] Debord no ano passado e que ambos dialogaram muito naturalmente com alguns dos meus novos filmes favoritos. O que, eu acho, é exatamente o que uma sessão dupla fantasia significa. As distâncias entre duas obras costumam ser mais interessantes para mim do que os lugares onde elas se cruzam. Quanto às fotos e às comunidades nelas representadas: ‘Como crianças perdidas, vivemos nossas aventuras inacabadas’”. Em:https://mubi.com/pt/notebook/posts/notebook-s-12th-writers-poll-fantasy-double-features-of-2019#horwath
3 Termo emprestado do ensaio de Alexander Kluge, Die Utopie Film, de 1964.
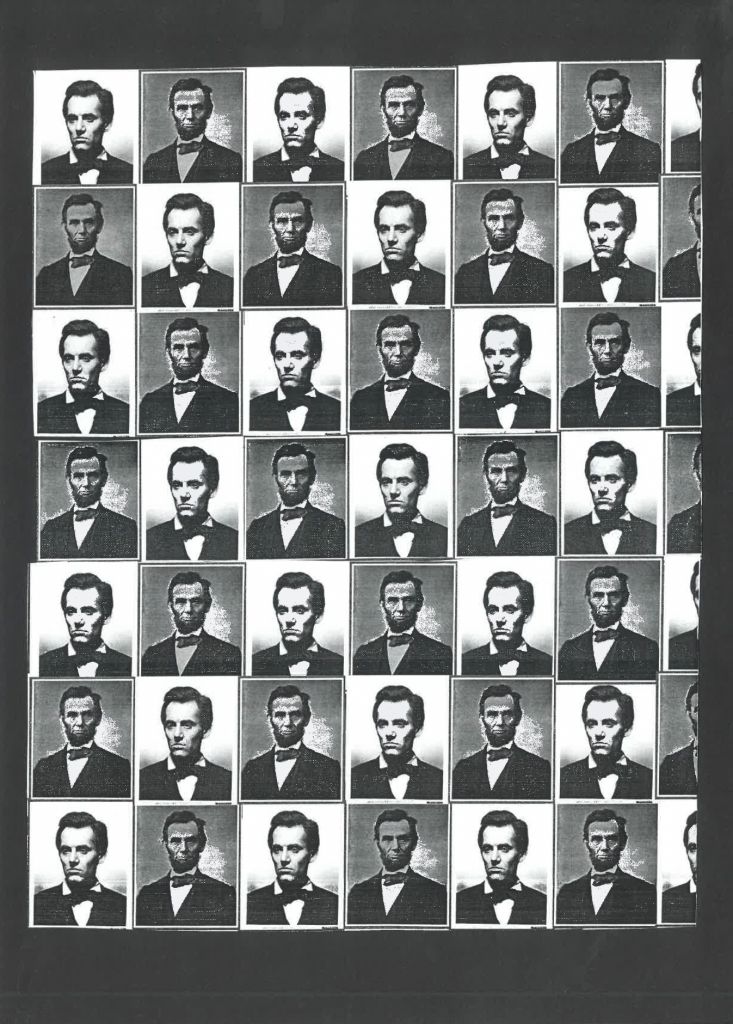
“Oh Jesus Christ, it’s Henry Fonda!”:
Política e ator, uma união não tão improvável
por Letícia Weber Jarek


I. O mercenário
A cena é bem conhecida: num oásis construído por uma família de pioneiros em pleno deserto, quando a calmaria reina entre o canto das cigarras e os preparativos para o almoço, um bando de forasteiros irrompe por entre os arbustos — os pássaros anunciam a matança de toda uma família, cujo filho caçula é a última vítima. Último corpo deposto nessa pintura dos primeiros tempos dos Estados Unidos, mas também a primeira testemunha da reviravolta estética em curso. Ou seja, quando esse quadro idílico, composto por toalhas xadrez, cantis cheios e roupas de domingo, é maculado pela presença de ninguém mais, ninguém menos que Henry Fonda.
A anedota sobre Era uma vez no Oeste é também bem conhecida — Fonda pertencendo ao grupo de artistas que contavam incansavelmente as mesmas histórias. Ao se preparar para o papel, o ator teria então abandonado seus reluzentes olhos azuis para interpretar o mercenário Frank, valendo-se de lentes de contato e de um bigode característico de forasteiros de mau caráter. Contudo, Sergio Leone havia concebido seu vilão arquetípico justamente sobre as linhas do “Fonda face”, ora, o rosto que havia assistido e servido de base à evolução do faroeste hollywoodiano. Eis aí um contraste insuportável para o imaginário estadunidense, que explicará a má recepção e, até mesmo, a difícil aceitação de Era uma vez no Oeste na época de seu lançamento: quer dizer que o homem que dizima famílias e mata criancinhas sem ao menos pestanejar é o nosso Lincoln, Wyatt Earp, Mister Roberts…?
No programa The Dick Cavett Show1, em 1972, o ator narra com graça a descoberta de seus olhos, seus “baby blues”, através da panorâmica herética de Leone: se antes refletiam a inocência e um certo puritanismo do berço cultural estadunidense, agora o que reluz é a arma que põe fim ao garoto. Fonda conclui sua bela descrição com uma provocação gentil, que rebate as réplicas do apresentador, segundo as quais ele não teria interpretado muitos vilões, “verdadeiros psicopatas”. Com seu sotaque do Nebraska, ele diz sorrindo: “Is that being a heavy?”
Em 2024, Alexander Horwath adiciona um tijolo a mais nesse edifício disforme que constitui o imaginário cinéfilo no qual o ator ocupa um lugar central: em Henry Fonda for President, os planos de apresentação do mercenário de Leone são seguidos pela afirmação seca e certeira do narrador — “As filmagens de Era uma vez no Oeste começaram duas semanas depois do massacre de Mỹ Lai.” Talvez esteja aí a razão pela qual Cavett reage à descrição do ator com um reflexo cínico de surpresa, tamanho o recalque de todo um país diante do retrato impiedoso de Leone/Fonda: “Esse filme foi realmente feito?!” Ao que o ator responde com uma humildade desarmante, mas sempre muito afiado: “Sim, e fez muito sucesso. Não nesse país, não tanto…”
II. O homem comum
Guardemos o eco do acompanhamento monumental de Morricone, com guitarra e violinos em marcha, para passarmos a Henry Fonda for president. Pois ao emprestar a gravidade formal dessa e de outras obras da filmografia do ator, o filme de Horwath esbarra nessa mesma monumentalidade, tão atrelada à constante necessidade do cinema hollywoodiano de contar, e por aí reafirmar, o ideário dos EUA. Quer seja na atração despojada de Ford por filmes sócio-históricos, quer seja na reciclagem intermitente de personagens míticos como os irmãos James e o coronel Custer, Horwath trabalha nos interstícios dessa sólida tradição hollywoodiana, que, segundo Serge Daney, é marcada pelo espírito do teatro e do desfile, essa certa “generosidade americana de se dar em espetáculo, dizendo para si mesmo que todo mundo vai amá-los — o único povo na História que pensou que seria amado”2.
Porém, grande astúcia dos velhos diretores que o programador e cineasta austríaco acaba herdando, o espetáculo histórico é contado aqui no rosto de um ator que, este, “não possui boas respostas para nada”, que não pensa na sua influência, muito menos se declara consciente do ideal do common man que ele frequentemente encarnou — nas suas próprias palavras, “digno de confiança, leal, pleno de integridade”3. É com a voz condutora de Fonda, velha gaita do Midwest que surge aqui e ali em antigas entrevistas, que Horwath tece a sua colcha de retalhos. Entre histórias centrais e marginais do cinema, pequenas e grandes rodovias dos EUA, ele articula uma reflexão sobre o país, suas atualidades sempre tão performáticas e, sobretudo, um ensaio sobre a vida e o trabalho de Henry Fonda. Na posição de cineasta, Horwath continua a atuar, contudo, como um programador — com um acréscimo de liberdade e discrição, é verdade, mas sempre explorando o potencial revelador de certas montagens e intercalações de filmes, tal como um cinéfilo e pesquisador ativo que vaga entre retrospectivas e torrents. Se a comparação com História(s) do cinema (Jean-Luc Godard, 1988) pode talvez se impor num primeiro momento, ela é, todavia, insuficiente: mais do que trabalhar com as imagens numa colagem à altura dos sonhos, Henry Fonda for President busca recuperar o processo de decantação dos filmes recorrente na vida de espectadores assíduos — ora, algo que ocorre, essencialmente, no tempo.
Daí o interesse em inserir longas cenas dos antigos filmes de Fonda com trechos atuais das paisagens estadunidenses: o elo perdido entre o passado e o presente surge entre um travelling de Ao rufar dos tambores (John Ford, 1939), no qual testemunhamos as perdas humanas da Guerra da Independência, os desfiles em homenagem aos veteranos dessa mesma guerra em A mocidade de Lincoln (John Ford, 1939) e, mais tarde na montagem, uma passeata que reproduz os velhos tempos de Tombstone — que “apresenta com orgulho as rainhas do passado, do presente e do futuro” dessa cidade tão cinematográfica. Para além dos gestos particularmente “americanos” destacados pelas perspectivas de John Ford, William A. Wellman, Fritz Lang e Alfred Hitchcock, sobressai o próprio território árido dos Estados Unidos. Ou seja, em travellings e panorâmicas que dão a ver grandes terrenos cercados pelas montanhas, por vezes parasitados por estruturas industriais, planos dos campos de trabalho ocupados outrora por simples agricultores Okies, hoje por mexicanos. Da amargura dos diretores clássicos chegamos então à desolação de cineastas como Robert Kramer e James Benning — planos semelhantes, suscitados por uma mesma paisagem: imagens de um país que, ao se vangloriar de “uma visão de liberdade no capitalismo, zomba da própria ideia de democracia”, segundo os termos de Horwath.
III. O ator
É sobretudo no rosto queimado de Henry Fonda, vincado pelo tempo, que essa história toma corpo. Talvez com John Wayne, ela poderia ganhar uma forma muito caricata e celebratória — ele, um “Prometeu da América”4. Nos traços de James Stewart e Gary Cooper, ela talvez se tornasse muito sombria e heroica, no que o anti-herói dos anos 1950 e 1960 possui de redenção e sacrifício. Nada disso em Henry Fonda. Ainda que sua filmografia tenha abarcado mais de duas décadas da história dos EUA, ao passo que o tempo histórico de seus faroestes vai de 1776 até 19655, os personagens de Fonda estão sempre muito à vontade no anonimato, um resquício da timidez inerente à persona do ator. Marco-fundador desta última, o jovem Lincoln é um ótimo exemplo — como ressalta Ford, aos gritos, a fim de convencê-lo a participar de A mocidade de Lincoln: “Que merda você acha que é isso? Você acha que ele é um maldito emancipador? Ele é um advogado amador de Springfield, pelo amor de Deus!”6
Por motivos um tanto descabidos, que revelam uma certa ideia do ator e do cinema hollywoodiano clássico, Henry Fonda é descartado rapidamente da política de atores de Luc Moullet. Diferente de sua quadra de ases, o ator estaria mais à esquerda do que à direita, mais inclinado a dramas psicológicos, tendo flertado muitas vezes com o teatro, o que produziu longos períodos de latência em sua obra cinematográfica – ao passo que Cooper, Wayne, Grant e Stewart teriam se consagrado inteiramente ao cinema. Palavra um tanto rara na prosa de Moullet, mas que descreve bem sua seleção, Henry Fonda é aquele que, entre todos esses colegas de profissão, se encaixa com mais dificuldade na definição de estrela. Como sublinha Michel Cieutat, ao contrário destes, Fonda “nunca se isolou numa temática limitada, ele pôde mesmo oferecer uma tripla imagem de marca ao público americano”7. Daí a dificuldade de inseri-lo na galeria de temas e motivos recorrentes da quadra de ases de Moullet, na qual um gesto, a continuação de um filme ou de um gênero, se transfere de um ator a outro.
Se críticos como Moullet denunciaram com precisão o underplay8 tão recorrente nas estrelas masculinas da época — que se transforma, em Fonda, numa atuação muito cool, de réplicas lentas e olhares detidos —, o ator trabalha, todavia, quase que paralelamente ao discurso individualista que personaliza os dramas e os personagens a partir dos traços das estrelas. Ele materializa, afinal, o “All-American Hero”9 que não possui um rosto preciso, daí a genialidade de Hitchcock ao construir todo um filme sobre a tragédia de ter um rosto muito comum. Trata-se, no fundo, desse rosto e corpo alongados “como um dia sem pão”10, com dentes perfeitos e uma considerável covinha na bochecha direita, que veicula ao mesmo tempo os valores do “puritanismo americano, da livre iniciativa e da democracia jeffersoniana, assim como do federalismo roosevelt-kennediano”11.
Defender Fonda como autor equivaleria, então, a travar uma batalha já perdida? Não — por muitos motivos, alguns deles contemplados por Fonda for president. Ao passo que Horwath cultiva, há tempos, um olhar atento à atuação12, seu filme extrapola as fronteiras estabelecidas pelo trabalho de Moullet. De um lado, pois ele não possui o pudor estratégico de não comentar, nem ao menos tentar entender, como a vida pessoal dos atores influi nas suas composições — algo comum, e frequentemente instrumentalizado, nas produções da indústria hollywoodiana. Por isso, ele se afilia muito mais à linhagem de estudos atorais e star studies que, muito antes de Moullet, escreveram sobre os atores13, tendo em conta suas composições e suas personas. Isto é, a maneira como a imagem de uma estrela é produzida, ao mesmo tempo, pelo fílmico e extra-fílmico.
Já é tempo de entender que o ator como autor não é uma ideia original do crítico da Cahiers du Cinéma14, muito menos que Moullet teria inventado a roda com a expressão política de atores. Ora, uma expressão recorrente nos meios cinéfilos nos anos 1970 e 1980, e que irrompe, segundo minhas últimas pesquisas, na pluma de Christian Viviani em um artigo da revista Positif15 — revista que, aliás, glosou muito mais sobre os atores hollywoodianos, fazendo deles um verdadeiro campo de pesquisa, do que os próprios Cahiers. O que o projeto de Moullet possui de enriquecedor e provocador, ele possui também de empírico e arbitrário, nas palavras de Jacqueline Nacache, ele “reivindica uma leveza que contamina seu objeto e corre o risco de se tornar seu próprio beco sem saída”16. Nesse sentido, Moullet se aproxima bastante da primeira tentativa de aproximação teórica de Éric Rohmer e Claude Chabrol ao autor Hitchcock17… E se fôssemos permanecer nas vias dos Cahiers, seria interessante sublinhar que, como diria Godard, atentamo-nos para a palavra errada: ao invés de autor, deveríamos nos deter na palavra política.
Aqui, Horwath acerta mais uma vez. Não só ele produz um filme que se constitui como um grande mapa íntimo dos EUA, mas também um guia dos trabalhos de Fonda, no qual é possível seguir uma espécie de educação do olhar em relação à atuação. Ora, um material de apoio valioso para os estudos atorais, que evidencia a necessidade de sensibilizar o olhar aos gestos dos intérpretes e aos discursos de suas personas através da imersão constante, da vivência diária com suas filmografias… Que Fonda diga que ele não se vê como um autor, cena presente no filme, pouco importa: quantos críticos se depararam com a mesma afirmação de diretores hoje validados, de forma legítima, pela alcunha de autor? O que prevalece, enfim, são essas frequentes centelhas de criação destacadas pela montagem de Horwath: sua caminhada em Lincoln, ponto de partida de seu estilo e sua persona; como ele deixa suas mãos soltas nesse mesmo filme, tal como um casaco velho pendurado no vestíbulo; em oposição, os punhos em riste em Sangue de heróis (John Ford, 1948). Ou ainda, como seu corpo trava uma frequente batalha com o visível, pernas à altura do quadro, levando tombos gigantescos em As três noites de Eva (Preston Sturges, 1941); o andar saltado, ombros e quadril à frente, como se ele tivesse dois joelhos, relembra Dick Cavett. De personalidade fechada, como John Ford, ele compartilha com esse diretor suas melhores criações: nas palavras de Ford, ao relembrar a filmagem de Lincoln, essas “tears of multitude”.
IV. O presidente
É por isso que a alucinação de Maude ao montar a campanha presidencial de Henry Fonda em 1976, na série televisiva desse mesmo ano, não goza da mesma canalhice do discurso de Reagan que abre as cenas iniciais do filme, ou do múltiplo de Donald Trump que, numa cena, dança sob as luzes da Times Square. Ao insistir nas Vinhas da ira, filme central nessa colcha de retalhos, Horwath aponta para uma espécie de repositório moral de Fonda, que o aproxima timidamente de uma veia messiânica. Com o rosto sulcado semelhante ao de John Carradine, ele vaga nesse filme como uma “estrela relutante”, o “melhor ator desconhecido de Nova York”, cujo andar “teimoso, paciente” suscita a identificação de James Baldwin. Mais do que o melhor homem, o homem errado e o homem sem nome, como relembra Horwath18, Henry Fonda parece encarnar com frequência personagens eternamente presos na dinâmica daquele que é ninguém em via de se tornar alguém. Um Cristo qualquer de todos os dias, frequentemente ignorado, mas que, num momento inesperado, suscita a memória, evoca a perda e a presença dos mortos. Em suma, um vulto. Voltamos assim ao rosto turvado pela sobreposição de imagens em O homem errado (Alfred Hitchcock, 1956), aos olhos que se subtraem da imagem em Consciências mortas (William A. Wellman, 1942), à primeira aparição do presidente que apertará o botão final do apocalipse em Limite de segurança (Sidney Lumet, 1964): apenas uma nuca, o rosto refletido no metal turvo do elevador. Enfim, um rosto cinematográfico que se faz santo sudário…
O que torna, afinal, a tese de Maude e Horwath ao mesmo tempo tão autêntica quanto impossível é que esse rosto que remete ao passado e à memória, como sublinha Devin McKinney19, o faz por acaso, quase a contrapelo — e é justamente aí que Fonda se distancia de figuras como Reagan e Trump. Ao contrário deles, ele é, no fim das contas, um bom ator: ele usa uma máscara ideal sem mentir ao todo — naquilo que há ao menos de essencial. Em suma, está aí toda a diferença entre esses presidentes ideais e reais: as rugas e o bronzeado ressecado de Fonda contra o amarelo hepático e artificial do atual presidente dos EUA. Com o primeiro, ator de um eterno P&B, a história desse país se revela na máscara do ator — quando ele vira as costas para o ideal e cobre os próprios olhos após testemunhar o horror e a violência. Com os verdadeiros presidentes que passam em prime time nas televisões estadunidenses, a máscara, o desfile alegre e o discurso acalorado fazem dessa mesma história uma superfície plastificada que se encerra em si mesma — com um lifting aqui, um botox acolá.
___________
1 Cena disponível no Youtube, programa realizado em 19 de abril de 1972.
2 DANEY Serge, La maison cinéma et le monde. 4, Le moment Trafic, 1991-1992, ed. Patrice Rollet, Paris, POL, 2015, p. 49.
3 Empresto esse trecho do próprio filme de Horwath, que reproduz a gravação de entrevista de Fonda, realizada pela revista Playboy, em dezembro de 1981. Nas próximas citações não referenciadas, trata-se de novos empréstimos retirados do próprio filme de Horwath.
4 CIEUTAT Michel, « Henry Fonda ou l’Amérique des certitudes », Positif, n° 265, março de 1983, p. 23.
5 Ver o artigo de CIEUTAT Michel, « L’Ouest ordinaire – Henry Fonda et James Stewart », Positif, n° 509-510, julho de 2003, p. 44.
6 BOGDANOVICH Peter, Who the Hell’s in It: Portraits and Conversations, New York, Alfred A. Knopt, 2004, p. 306. Mais uma vez, Fonda conta essa história — agora com algumas alegres alterações — em 1969, durante sua entrevista com o crítico e cineasta para o documentário Dirigido por John Ford (Bogdanovich, 1971, 7 min). Entrevista que também será transcrita no livro citado acima, no original: “What the fuck you think this is?! You think he’s the goddamn emancipator? He’s a jack-leg layer in Springfield, for Christ’s sake!”.
7 CIEUTAT Michel, « Henry Fonda ou l’Amérique des certitudes », op. cit., p. 19.
8 Conferir, por exemplo, o capítulo de Luc Moullet sobre Gary Cooper em Politique des acteurs (1993, p. 19-42) e a obra seminal de Christian Viviani sobre o estudo do ator no cinema, Le magique et le vrai : L’acteur de cinéma, sujet et objet (2015).
9 CIEUTAT Michel, « Henry Fonda ou l’Amérique des certitudes », op. cit., p. 19.
10 Ibidem, p. 26.
11 Ibidem, p. 23.
12 Conferir “Interview with Alexander Horwath: On Programming and Comparative Cinema”, Cinema Comparat/ive Cinema, vol. I, n. 1., 2012,
p. 12-31.
13 Indico os livros essenciais de James Naremore no âmbito dos estudos atorais (Acting in Cinema, 1988) e a obra de Richard Dyer, Stars (1979), como uma bela introdução aos star studies.
14 Conferir MCGILLIGAN Patrick, Cagney, The Actor as Auteur, New York, Da Capo Press, 1975.
15 VIVIANI Christian, « Lon Chaney ou la politique de l’acteur », Positif, n° 208-209, julho de 1978.
16 NACACHE Jacqueline, L’Acteur de cinéma, Paris, Armand Colin, 2005, p. 46-53.
17 ROHMER Éric, CHABROL Claude, Hitchcock, Paris, Éditions universitaires, 1957.
18 Descrição do ator para a retrospectiva do Il Cinema Ritrovato, realizada em 2020.
19 MCKINNEY Devin, The Man Who Saw a Ghost: The Life and Work of Henry Fonda, New York, St. Martin’s Press, 2012, p. 188. Citado também por Horwath nas apresentações das retrospectivas realizadas no Il Cinema Ritrovato (2020) e na Cinemateca Francesa (2024).
Depoimento do diretor
por Alexander Horwath

A busca por “origens” deve ser evitada a todo custo, mas não é exagero dizer que minha preocupação ao longo da vida com a história e com o presente dos Estados Unidos, com o cinema estadunidense e seus profissionais, e especificamente com o ator Henry Fonda, foram razões essenciais para eu experimentar uma nova profissão.
Ainda assim, esse salto na feitura de filmes é, com certeza, puxado para mim. Decidi seguir porque, para chegar a um acordo com o material acumulado à minha frente, a abordagem cinematográfica parecia ser a única que apresentava lógica. Um aprendizado de minhas atividades anteriores: cada tópico “adotado” impulsiona uma certa forma de realização. Em algum nível, qualquer constelação de perguntas já contém a forma da possível resposta. Por isso que, em colaboração próxima com Michael Palm e Regina Schlagnitweit, escolhi responder em forma de filme. Pode lembrar uma dupla hélice: duas tiras principais que constantemente se entrelaçam num mútuo movimento ascendente e espiralar – a biografia de um compósito chamado “Henry Fonda” e a “biografia” dos Estados Unidos da América.
O filme sobrepõe múltiplas esferas temáticas e formatos de apresentação: narrativas ficcionais e fatos históricos; cursos individuais de vida e reflexões sociopolíticas; momentos da história estadunidense e os detritos de sua cultura popular – assim como perguntas ácidas sobre democracia. Henry Fonda é o piloto desta empreitada. Sua vida e a vida de seus ancestrais, a pessoa de fato e a persona cristalizada de seus filmes, os lugares e tempos onde e quando a pessoa e a persona foram ativas – esses fios condensaram em uma visão dos EUA. E nos levaram às locações onde filmamos em 2019 e 2021. A forma concreta e o seu próprio momentum levaram a mais investigacões: novas rotas secundárias, novos personagens-satélite, novas conexões e especulações. Graças ao seu histórico familiar, seus conflitos pessoais, fraquezas e crenças, seus filmes e seu talento especial como ator, Fonda também opera um pouco como uma lente de zoom, capturando as mais variadas dimensões da história e da vida dos EUA por diferentes distâncias focais. Pode te dar apenas os contornos – ou detalhes muito precisos. E graças à voz de Fonda, que nos levou pela longa entrevista de Lawrence Grobel com ele no verão de 1981, ele também é o segundo “narrador” do filme.
Na verdade, ele era uma pessoa taciturna. Não se via como um artista e não gostava de falar de si mesmo. Mas deu conta de prestar testemunho – mesmo que ele mesmo não o tenha percebido dessa forma. Hannah Arendt fala sobre isso no começo do meu filme, e tomei a linerdade de lê-lo como um depoimento sobre Henry Fonda: “O tema revela um trabalho objetivo ao público. O que é subjetivo sobre isso, o processo de trabalho por exemplo, não interessa ao público. Todavia, se este trabalho não é meramente acadêmico, mas o resultado de uma vida vivida e sofrida, então a revelação também é a da ação e da fala vivas, e quem as porta é a própria pessoa. O que aqui aparece é desconhecido a quem o apresenta. Ele não tem qualquer controle sobre os efeitos.”
(Tradução: João Lucas Pedrosa)
Sonhos e fatos, Fonda e a América
por Alexander Horwath
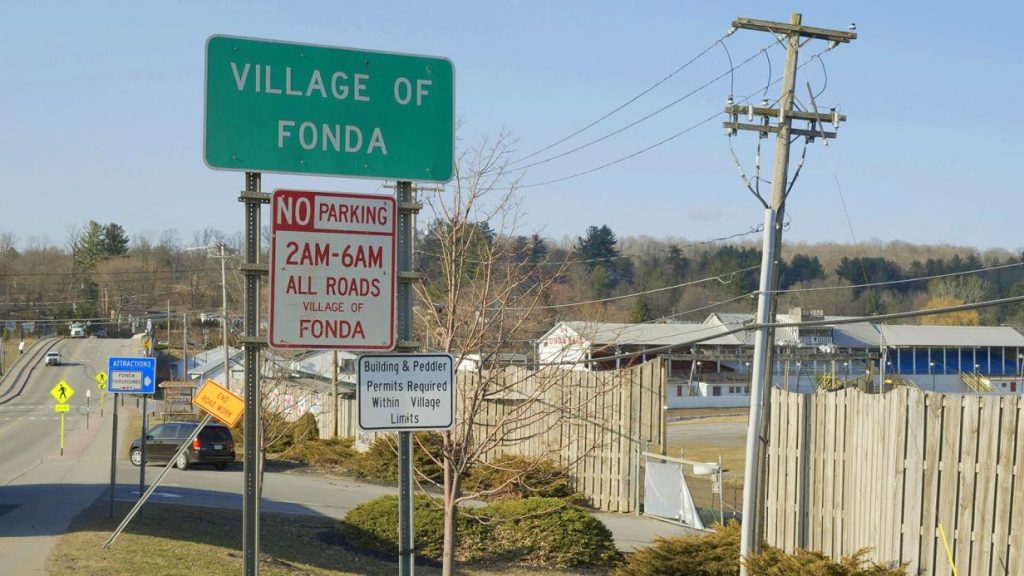
“A imaginação sempre desempenha um grande papel
em tempos de desassossego político.”
Emilio Lussu, 1932
“Os atores são o nosso governo emocional —
eles não são eleitos, mas acabam nos representando,
quer gostemos ou não.”
Luc Sante & Melissa Holbrook Pierson, 1999
As forças que afetam os dois temas de Henry Fonda para Presidente têm alguma semelhança com a descrição no início de Uma História em Duas Cidades, de Charles Dickens: “Aquele foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos; aquela foi a idade da sabedoria, foi a idade da insensatez, …” Aqui também, essas coisas vêm juntas, muitas vezes num único e mesmo flash — e com todos os tons de cinza entre eles. Assim como Fonda oscila entre os filmes que ele deu forma, o mesmo ocorre com a estrutura histórica e política à qual eles pertencem. Um estado profundo, a “América”, e um estado republicano governado por lei, os “Estados Unidos”. Segundo as imagens que lhe são mais frequentemente atribuídas: uma nação perpetradora e salvadora da democracia; um país atrasado e violento e uma nação de povos indígenas, migrantes e residentes forçados, que, em muitos aspectos, poderia ser entendida como uma vanguarda global. As palavras de John Steinbeck sobre seu amigo “Hank” Fonda dão uma ideia das contradições que pertencem a ambos os “protagonistas” do filme: “Minhas impressões do Hank são de um homem que quer alcançar mas é inalcançável, gentil mas capaz de uma selvagem e perigosa violência súbita, crítico afiado dos outros mas igualmente auto-crítico, enjaulado e guerreiro da jaula mas tímido da luz, ferozmente oposto à contenção externa enquanto impõe uma escravidão de ferro a si mesmo. Seu rosto é um retrato de opostos em conflito.”
Nos filmes mais significativos de Fonda, as experiências americanas – tanto históricas quanto pessoais – estão inscritas de diversas maneiras. Às vezes, os vestígios são abertamente visíveis nas histórias contadas e nas posições que a personagem de Fonda assume nelas. Em outros casos, elas emergem indiretamente, sutilmente, através de seu estilo de atuação que dá presença ao não dito e ao invisível. A biografia mais convincente do ator, The Man Who Saw a Ghost, de Devin McKinney, dedica seu título ao talento de Fonda para invocar espíritos. Graças a essa habilidade, ele é capaz, mais do que outras estrelas de cinema de sua geração, de nos revelar de forma vívida e dolorosa as texturas ocultas e as falhas de sua época e de seu país.
Como atesta mais uma vez a situação atual nos EUA, as opções de um país são negociadas não apenas no Congresso e não apenas com base em fatos concretos, mas também (para o bem ou para o mal) na esfera da imaginação pública, na “vida dos sonhos”. Durante grande parte do século XX — precisamente durante o período em que Henry Fonda atuou — o cinema de Hollywood serviu como o meio mais eficiente nessa esfera. Alguns de seus poderes naquela época talvez possam ser comparados às energias atuais das mídias sociais. A campanha “Henry Fonda para presidente”, lançada no episódio de sitcom Maude’s Mood de 1976, é um eco desse poder há muito perdido. O filme de mesmo nome leva essas ideias ao pé da letra e examina até que ponto uma estrela de Hollywood pode servir como instrumento improvável de uma história paralela.
(Tradução: Gabriel Linhares Falcão)
A última entrevista de Henry Fonda
por Lawrence Grobel
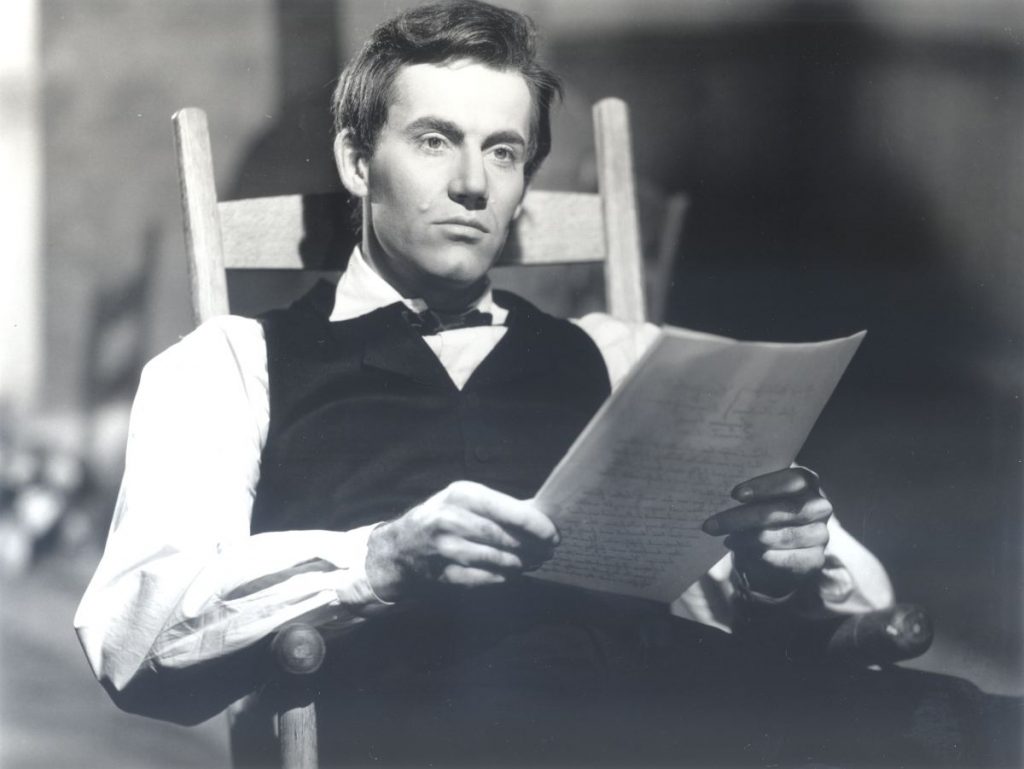
A voz áspera e frágil de Henry Fonda permeia o filme. Deriva da longa entrevista que o jornalista Lawrence Grobel conduziu com Fonda em julho de 1981 na sua casa em Bel Air. Naquele tempo – um ano antes de sua morte – Fonda ainda estava fraco depois de uma operação, mas dedicou seis dias para responder à extensa lista de perguntas de Grobel.
As fitas, 12 horas no total, foram adquiridas e digitalizadas para o uso em Henry Fonda para presidente. Abaixo, estão trechos que também podem ser ouvidos no filme.
1919, UM LINCHAMENTO
Em 28 de setembro de 1919, um linchamento ocorreu do lado de fora do tribunal de Omaha. A vítima é William Brown, um dos muitos trabalhadores afroamericanos que migraram do Sul para as cidades industriais do Norte e do Nordeste após a 1ª Guerra Mundial.
Fonda: A vista do escritório do meu pai dava para a praça do tribunal. E ele me levou para o escritório e assistiu da janela. E tinha esse jovem negro que eles tinha prendido com suspeita de estupro. E essa multidão começou a se juntar. Eu conhecia o prefeito, ele estava a cavalo. Ele andou com dois assistentes a cavalo até o meio da multidão, tentando suprimir e acalmá-los. Eles quase lincharam o próprio prefeito. Era o quão fora de controle eles estavam. Não dava pra acreditar que eles iam derrotar as forças da lei, forçar caminho pra dentro [do tribunal], tirar esse cara de uma cela, arrastá-lo pelas ruas, enforcá-lo de um poste, esburacá-lo de balas, e aí arrastá-lo de trás de um carro. Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Foi horrível. Eu sei que meu pai nunca dava sermão. Nós só assistimos. E, quando tudo acabou e fomos pra casa, ele não falou sobre. Bem, foi um choque enorme pra mim.
ATUAÇÃO COMO TERAPIA E ARTE
Fonda: Parte de toda a atração em atuar, e que eu aprendi muito gradualmente, foi que era terapia para um jovem muito tímido e auto-consciente. Eu usava uma máscara. Era como se esconder atrás de um personagem. Era um jogo, era fazer de conta. “Vamos fingir”. Que nem uma criança brincando de “polícia e ladrão” ou de “cowboys e índios”. Eu vou lá fora e não vou ser eu mesmo e as pessoas não vão estar olhando para mim.
Como desaparecer – e se tornar famoso ao mesmo tempo. É uma terapia a longo prazo, e Fonda passa seus anos mais difíceis tentando encontrar o equilíbrio requerido.
Fonda: Estávamos numa depressão, como atores sempre estão. E Charlie [Weatherbee] e Josh [Logan], quando se formaram, foram à Rússia estudar com Stanislavsky. E me deixaram ficar no apartamento sem pagar aluguel. Não tínhamos açúcar, nem sal. Nada. Só se cozinhava arroz. Chegou ao ponto que todas as moças e secretárias de elenco me conheciam tão bem que elas só olhavam pra mim, sorriam e diziam: “Nada, Hank”. E foi durante esse tempo que Josh disse que eu era o ator desconhecido mais conhecido de Nova York. […]
Grobel: Você sente que há arte nos filmes?
Fonda: Sim. Eu acho que o DeNiro é um artista.
Grobel: E sobre você, nesse quesito?
Fonda: Eu não penso nisso. Não penso sobre mim mesmo dessa forma. […]
Grobel: Você irá à próxima cerimônia do Oscar se seu filme for indicado?
Fonda: Não estarei lá pra aturar essa merda. Assisto na tevê. Sem chance.
JOHN FORD
Fonda: Acho que as primeiras palavras dele [a mim] foram algo do tipo: “Que merda é essa de você não querer interpretar o Lincoln? Você acha que ele é o presidente, caralho? Pelo amor de Deus, ele é um advogado fajuto de Springfield.” E foi assim que ele me intimidou ou me persuadiu. […] O Ford, você nunca tinha certeza sobre ele. Ele mantinha segredos do próprio supervisor de roteiro. Ele sonhava pequenos negócios no carro a caminho da locação. Nunca falava uma palavra até chegar na cena. Aí dizia: “Por que você não faz isso e aquilo? Ponha seus pés sobre o correio. Troque de posição.” E essas sempre acabavam sendo as coisas das quais as pessoas se lembravam.
“AS VINHAS DA IRA”, JOHN STEINBECK E O PAPEL DE TOM JOAD
Fonda: Eu já tinha trabalhado para [a 20th Century Fox e Darryl F.] Zanuck inúmeras vezes. Tinha feito vários filmes lá e ele estava sempre atrás de um contrato – e eu não estava interessado. Até “Vinhas da Ira”. E essa foi a isca. Ele disse “Eu não vou te deixar fazer o Tom Joad se não puder te controlar.” Fiz Vinhas da Ira e em seguida fiz algumas das piores merdas que já tive que fazer em filmes. […]
Grobel: Você sente que há uma parte de Tom Joad em você?
Fonda: Não.
Grobel: Quando você chegou a conhecer o [John] Steinbeck?
Fonda: Bem, foi depois que fiz o filme. Simplesmente fizemos um tour por bares e nos embebedamos. Nunca fomos íntimos, próximos de verdade. Acho que tínhamos admiração um pelo outro.
Grobel: Anotei algo que ele falou de você. Ele disse: “Minhas impressões do Hank são de um homem que busca alcançar mas é inalcançável, gentil mas capaz de uma selvagem e perigosa violência súbita, crítico afiado dos outros mas igualmente auto-crítico, enjaulado e guerreiro da jaula mas tímido da luz, ferozmente oposto à contenção externa enquanto impõe uma escravidão de ferro a si mesmo. Seu rosto é um retrato de opostos em conflito.” Isso é preciso?
Fonda: Eu não sei, isso… Essas são as palavras do Steinbeck. Eu nunca pensaria em mim lendo essas palavras.
HIROSHIMA
A cidade natal de Fonda produz aviões de bombardeio B-29. A Superfortaleza [“Superfortress” é o nome popular do avião] garante a superioridade dos EUA na guerra contra o Japão. O mais fatal é o “Enola Gay”.
Grobel: Você sabia do lançamento da bomba atômica, não sabia? Antes do lançamento. Você fazia ideia do que iria ser?
Fonda: Não totalmente, porque eu não tinha ideia do tipo de devastação que iria criar. Era só algo novo, uma bomba maior.
E eu fui até o Tiniã com meu chefe, o comandante Koepke. Nós resumimos ao piloto onde ele ia e quais marcações procurar. E a coisa seguinte que eu escuto é sobre Hiroshima, que devo dizer que me chocou. Só consigo desejar que eles, pra começar, nunca tivessem pensado em fazer isso e nunca tivessem feito uma bomba atômica. Eu sou contra tudo isso. Queria que só tivessem dito: “Bem, isso é perigoso, não vamos tocar nisso.”
Grobel: Mas essa não é a natureza do homem, é?
Fonda: Não.
Grobel: Você acha que eventualmente ela [a bomba atômica] vai nos destruir?
Fonda: Não me surpreenderia.
OS ANOS MCCARTHY
É 1948 e “Mister Roberts”, uma peça sobre a guerra, é um fenômeno. Ela mantém Fonda longe do caça às bruxas hollywoodiano do Senador McCarthy. Sete anos depois, Fonda retorna aos filmes.
Fonda: Quer dizer, a era McCarthy foi simplesmente inacreditável para mim. Foi quando comecei a ficar menos amigável com Duke Wayne e Ward Bond. Eles nunca tinham indicado nenhuma inclinação política, e de repente essas duas figuras estão nomeando os comunistas do ramo, botando-os em listas negras.
Grobel: Você chegou a ficar amigável com eles novamente depois disso?
Fonda: Com Duke, um pouco mais caloroso. Ele era um cara muito simpático, e tinha senso de humor. Mas nunca perdoei Ward Bond e nunca falei com ele novamente.
A MORTE DE FRANCES SEYMOUR FONDA
Fonda: Bem, ela era uma pessoa muito divertida de se estar junto. Ela aproveitava a vida. Aproveitava as coisas que fazíamos. Era um casamento muito bem sucedido.
A juventude de Frances Seymour e seu primeiro casamento foram marcados por violência e alcoolismo. O segundo já aponta para a direção oposta: felicidade hollywoodiana exemplar com Henry Fonda. O modelo dura alguns anos. Então o marido vai à guerra. A esposa é diagnosticada como maníaco-depressiva. Em 14 de abril de 1950, Frances Seymour Fonda encerra a própria vida com uma lâmina de barbear em Craig House.
Fonda: Minha vida pessoal estava desintegrando, mas muito lentamente. Eu nem me dei conta disso por um bom tempo.
Grobel: Em que ponto você se deu conta?
Fonda: Bem, eu acho que depois que nos mudamos para o Leste e eu estava fazendo “Mister Roberts”. E foi quando Frances teve que ir a uma casa para pessoas perturbadas.
Grobel: Você chegou a, em algum momento, saber o que causou essa perturbação?
Fonda: Não. Muito disso eu pus pra fora da minha cabeça, então tem quase um branco. Nunca sonhei que seria uma coisa permanente. Só era cansativo ter uma esposa que não estava sempre bem.
Grobel: É difícil falar daquele tempo pra você?
Fonda: Bem, não é fácil. Eu não gosto de falar sobre isso ou ser lembrado do que aconteceu.
Grobel: E como as crianças descobriram?
Fonda: Elas eram muito jovens pra saberem a verdade, então simplesmente dissemos que a mãe tinha morrido no hospital. Mas eu fui criticado por não tê-los dito a verdade. Eu ainda acho que fiz certo. […]
SERGIO LEONE E “ERA UMA VEZ NO OESTE”
Fonda: Eu gostei do Sergio, ele é uma figura. Então eu me empenhei, ainda não tenho certeza do porquê ele me escolheu. Eu pensei naquele meio tempo: o que eu podia fazer pra me fazer parecer mais com um vilão? Então deixei crescer um bigode com umas curvinhas pra baixo para parecer um pouco com o cara que matou Lincoln. E eu comprei lentes de contato marrons para cobrir meus olhos azul bebê, e cheguei no set com as lentes e a barba, e Sergio só me deu uma olhada e disse “Tire!” – Ele não queria nada daquilo. Ele queria os olhos azuizinhos e o rosto do Fonda.
FONDA FAZENDEIRO ORGÂNICO
Grobel: Qual sua fruta favorita?
Fonda: Maçã.
Grobel: De que tipo?
Fonda: Bem, as minhas. Acabei de comer uma de almoço. É uma Beverly Hills. Só é plantada em quintais. Não é uma fruta comercial que dá pra comprar em pomar.
GRANDE NEGÓCIO – E RONALD REAGAN
Fonda: Acho que a água está se tornando um grande problema, por todo o país. Ainda há empresas que estão despejando ilegalmente resíduos tóxicos em pátios nalgum lugar e não falam nada sobre. Acho que é aí que está o perigo. Pessoas demais acham que isso é progresso e o caminho certo.
Grobel: Você acha que os grandes negócios estão fora de controle nesse país?
Fonda: Não, não acho que estejam fora do controle; acho que estão cada vez mais no controle. Acho que Reagan é a favor dos grandes negócios, está fazendo tudo que pode para ajudá-los. […]
Fonda: O Reagan me aborrece tanto que é difícil falar sobre. Acho que estamos na direção do desastre. Fico surpreso que não haja mais oposição. Acho que agora ele nos botou num caminho em que vamos ficar por muito tempo.
Grobel: Você conhece o Reagan?
Fonda: Sim
Grobel: Amigos ou só conhecidos?
Fonda: Conhecido.
Grobel: Ele já foi um bom ator?
Fonda: Não.
Grobel: Ele é agora?
Fonda: Não.
Grobel: Então como ele conseguiu ser eleito?
Fonda: Ele é um baita de um orador. Ele diz as coisas que as pessoas querem ouvir. Ele as diz muito convincentemente e com o que soa como sinceridade. Ele está falando uma linguagem que as pessoas não escutam há muito tempo, e as impressiona. Eu escuto um discurso do Reagan e quero vomitar!
(Tradução: João Lucas Pedrosa)
Notas de programação para Henry Fonda para presidente (Il Cinema Ritrovato, 2020)
por Alexander Horwath

HENRY FONDA PARA PRESIDENTE: Introdução e notas sobre os filmes para o catálogo do Il Cinema Ritrovato, 2020
À primeira vista, seu status icônico entre os atores americanos o faz parecer uma escolha óbvia. Mas seu papel complexo na vida onírica da república cinematográfica vai muito além da “integridade” e da “simplicidade” que foram atribuídas a ele e à sua arte. Sua persona é um produto polifônico de três momentos históricos – e das maneiras como ele os abraçou. Ele alcançou o estrelato no final da década de 1930, alguém do Meio-Oeste ligado a um tipo de esquerdismo da Frente Popular, assombrado pelas tensões entre capitalismo e democracia. Ele adquiriu ainda mais insegurança e um certo caráter traumático durante a Segunda Guerra Mundial e suas consequências. E ele passou a expressar as esperanças e os medos que acompanharam a “dissolução repentina” da era McCarthy até os anos 60 de JFK. Para uma politique des acteurs, Fonda aparece como o “Best Man“, o “Wrong Man” e o “Man with no name“, tudo ao mesmo tempo.
Oportunidades perdidas muitas vezes contribuem para o legado de um ator. Além da outrora predominante fantasia do mundo real à qual o programa deve seu título, as intensas esperanças de Vittorio De Sica e Sergio Leone de escalar Fonda como o protagonista de Ladrões de bicicleta (1948) e Por um punhado de dólares (1964) também sugerem o potencial histórico que se acumulou ao seu redor — além da filmografia em si. Esta série de filmes só pode relatar uma pequena parte do legado de Fonda: alguns de seus maiores filmes — As três noites de Eva (1941), Paixão dos fortes (1946), Era uma vez no Oeste (1968)— foram deixados de lado, assim como muitos de seus papéis famosos, como os de Jezebel (1938) e Jesse James (1939), Consciências mortas (1943) e Doze homens e uma sentença (1957), Mister Roberts (1955) e Num lago dourado (1981). Com uma exceção, a programação inclui obras inéditas no festival. Ainda assim, não se trata principalmente de uma seleção de raridades, mas sim de uma seleção que traça um arco específico.
Grandes escritores de literatura e crítica se envolveram regularmente com os filmes de Fonda e sua persona na tela; as notas a seguir são marcadas por algumas de suas percepções. John Steinbeck nos dá um vislumbre do homem privado: “Minhas impressões do Hank são de um homem que busca alcançar mas é inalcançável, gentil mas capaz de uma selvagem e perigosa violência súbita, crítico afiado dos outros mas igualmente auto-crítico, enjaulado e guerreiro da jaula mas tímido da luz, ferozmente oposto à contenção externa enquanto impõe uma escravidão de ferro a si mesmo. Seu rosto é um retrato de opostos em conflito.” Nas performances de Fonda, esses opostos estão igualmente presentes e fluem juntos lindamente porque são parte de um mesmo homem: o fora da lei rebelde e o representante político; o professor ou milionário atrapalhado e o trabalhador bravo; o fazendeiro e o intelectual urbano. Há também a fisicalidade única de Fonda quando está deitado ou agindo, seu andar altamente reconhecível e seus movimentos de dança encantadoramente desajeitados — e há um senso incomum de interioridade, uma reflexividade, “uma compulsão pela lembrança”, como Devin McKinney descreveu. “Quando sentimos nossas memórias enfraquecendo, nossa sensação do passado se dissolvendo, podemos olhar para ele. Podemos olhar para Henry Fonda e lembrar, como ele lembra.”
Alexander Horwath
VIVE-SE SÓ UMA VEZ (FRITZ LANG, 1937)
A aparição marcante de Henry Fonda na revista da Broadway New Faces, de 1934, foi o suficiente para Hollywood tomar nota. A aparição lhe rende um contrato substancial com o recém-independente produtor Walter Wanger, em meio a rumores de que a comédia política The President Vanishes será seu primeiro filme. Mas Fonda também desaparece. Ele retorna aos palcos e estrela outro sucesso da Broadway que rapidamente seria adaptado para sua estreia nas telas: Amor singelo (1935). Nos anos seguintes, Wanger, um formidável liberal do New Deal, orquestra a música de Fonda e, em 1937, seu primeiro movimento está completo: dirigido por Fritz Lang com total controle artístico (graças a Wanger), Vive-se só uma vez (1937) apresenta ele e Sylvia Sidney como o original “casal em fuga” – enredados em uma rede cada vez maior de forças sociais e destino.
Os arrepios provocados pelo filme ainda percorrem o grande livro de memórias de James Baldwin sobre cinema, de 1976, The Devil Finds Work: “Na época de Vive-se só uma vez, Lang já havia encontrado seu lugar americano. Ele nunca mais teve um sucesso tão brilhante. A premissa de Vive-se só uma vez é que Eddie Taylor é um ex-presidiário que quer se “endireitar”: mas a sociedade não permite que ele se livre, ou redima, de seu passado criminoso. (…) Por mais que alguém possa querer se defender da acusação de Lang sobre as pessoas pequenas, sem rostos, sempre disponíveis para qualquer cerimônia pública e ausentes para sempre de qualquer cerimônia privada, que são a sociedade, fica-se indefeso diante de seu estudo do resultado, que é o isolamento e a ruína dos amantes. (…) Há um pequeno momento maravilhoso no albergue, com Fonda andando de um lado para o outro no quarto do mesmo jeito que andava na cela, e parando na janela para ouvir a Banda do Exército da Salvação lá fora, cantando: se você ama sua mãe, encontre-a nos céus. Não consigo imaginar nenhum americano branco nativo ousando usar, de forma tão lacônica, uma banalidade tão próxima do cômico para capturar uma angústia tão profunda. A genuína indignação que permeia este filme é uma qualidade que em breve desapareceria do cinema americano e seria severamente ameaçada na vida americana. De certa forma, éramos todos negros nos anos 30. (…) Há aquele momento no filme, na prisão, em que Fonda sussurra para Sidney, através do vidro da cadeia: “Me dá uma arma“. Sidney diz: “Não consigo te dar uma arma. Você vai matar alguém!” e Fonda diz: “O que você acha que eles vão fazer comigo?” Eu entendi isso: era uma pergunta real. Eu estava vivendo com essa pergunta.”
DEIXAI-NOS VIVER (JOHN BRAHM, 1939)
Desde seu nítido assalto ao cinema e visita à igreja até sua duramente iluminada escalação policial de suspeitos e tomadas em travelling no corredor da morte, Deixai-nos viver (1939) é o mais conciso de todos os filmes de Fonda. É também um dos mais pessimistas. Em seu livro excepcional sobre a vida e a obra do ator, Devin McKinney descreve o “manto de vergonha existencial” que Fonda veste aqui, sua “persona nervosa e ácida interagindo com um senso modernista de derrota.” (…) Ambientado em uma cidade americana sem nome e sem sol, o filme é centrado em Brick, um taxista durão com uma namorada dedicada, sonhos de classe média e um rosto “representativo”. Brick e seu amigo Joe são erroneamente apontados como os autores de um assalto fatal. Eles passam pelo sistema legal, passam por julgamento e condenação até chegar à execução, antes de serem resgatados por acaso. O processo de justiça tem sido de escarificação, de má sorte cancelada pela sorte estúpida.”
Em termos de seu mundo narrativo, suas premonições de filme noir e como obra de outro refugiado da Europa nazista, o thriller de John Brahm compartilha vários aspectos com Vive-se só uma vez. De outras maneiras, antecipa O homem errado (Alfred Hitchcock, 1956). Só que aqui, o arco que vai dos ideais da classe média à desilusão (ou morte, ou catatonia) é tingido de dúvidas políticas mais concretas. O amigo sem grana de Brick fala sobre seus dias como trabalhador da colheita na Califórnia, onde o excedente de trigo e laranjas está sendo destruído enquanto as pessoas passam fome; e a própria fé de Brick no sistema também vai por água abaixo: “A lei não pode admitir que está errada”. Como se quisesse provar esse ponto no final, o promotor público diz: “Eu apenas cumpri meu dever” – e Brick recusa seu aperto de mão.
A MOCIDADE DE LINCOLN (JOHN FORD, 1939)
Fonda contava essa história com frequência, indicando uma das razões pelas quais o A mocidade de Lincoln (1939) ainda flutua tão levemente no abismo onde a maioria dos filmes biográficos sobre Grandes Homens estão agora enterrados: “Eu não conhecia Ford. Eu conhecia o trabalho dele e costumava ficar no set, assistindo às filmagens de No Tempo das diligências (1939). Eu ficava ali, em pé, na mesa dele como um guarda, com o chapéu branco na mão, e ele era o almirante. Acho que as primeiras palavras dele [a mim] foram algo do tipo: “Que merda é essa de você não querer interpretar o Lincoln? Você acha que ele é o presidente, caralho? Pelo amor de Deus, ele é um advogado fajuto de Springfield.” E foi assim que ele me intimidou ou me persuadiu.
Na última vez em que a democracia quase morreu em todo o mundo, o cinema e o rádio eram as redes sociais escolhidas. À medida que o cinema de Hollywood atingia seu auge como arte popular, também enfrentava a tarefa histórica de promover e atualizar o mito democrático. Estreando apenas dois meses após o extremamente deprimente Deixai-nos viver, o Lincoln, de Ford e Fonda, cumpriu essa tarefa — e a transcendeu. O filme continua inestimável hoje, não apenas pela paixão que desperta em admiradores e céticos (por exemplo, o louvor de Sergei Eisenstein em 1945 vs. a crítica dos Cahiers du Cinéma de 1970), e não apenas porque o próprio Ford sempre o nomeou entre seus favoritos. É amado porque é tão vivo – nos detalhes concretos da realização, assim como em sua dança dialética de corpo e mente, natureza e lei, lembrança e premonição.
Geoffrey O’Brien observou a “capacidade mercurial do diretor de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se o Lincoln de Ford exibe ao mesmo tempo uma sinceridade radiante e a sutileza tortuosa de um trapaceiro, ele é, nesse sentido, a imagem espelhada do diretor”. Essa imagem se reflete ainda mais na “atuação notável de Fonda. (…) Sua localização no espaço, sua distância relativa daqueles ao seu redor, sua postura física, seu grau de conforto ou desconforto: esses são pontos de referência constantes. Não conseguimos tirar os olhos dele, e ainda assim há momentos em que ele quase se perde na multidão. Seu florescimento como político, ao confrontar a multidão que busca linchar seus clientes, é equilibrado pelos momentos de afastamento, de olhar para a distância ou para dentro de si mesmo. Cada ponto de contato ou perda de contato é registrado com uma hipersensibilidade elétrica, principalmente em cenas que parecem banhadas por uma tranquilidade pastoral.”
AS VINHAS DA IRA (JOHN FORD, 1940)
Depois de passar pelo teste de fogo, o jovem Sr. Lincoln decide continuar um pouco, “talvez até o topo daquela colina”, enquanto uma tempestade se forma. Um ano depois, o fora da lei populista e assassino Tom Joad sai do nosso campo de visão da mesma maneira. O livro que o inspirou é As vinhas da ira (1939), de John Steinbeck. E o ator que o interpreta, 40 anos depois, fará um desenho particular daquele livro aberto, com uma lupa destacando um parágrafo: “Nas estradas, as pessoas se moviam como formigas em busca de trabalho, de comida. E a raiva começou a fermentar.”
Do diário de Bertolt Brecht, 22 de janeiro de 1941: “Vemos o filme As vinhas da ira, de Steinbeck. Você ainda pode ver que deve ser um ótimo livro, e os empreendedores provavelmente não queriam “tirar toda a força dele”. … A coisa toda é uma mistura interessante do documentário e do privado, do épico e do drrramático [sic], do informativo e do sentimental, do realista e do simbólico, do materialista e do idealista.
Dos escritos de Andrew Sarris, 18 de outubro de 1973: “Depois de ter sido superestimado em sua época como um testamento social, agora é subestimado tanto como um filme de Hollywood (não brilhantemente mítico o suficiente) quanto como uma lembrança de Ford (não puramente pessoal o suficiente). O que resiste a todos os testes do tempo, no entanto, é a encarnação arenosa de Tom Joad feita por Henry Fonda, uma mistura volátil de sinceridade da pradaria [e] paranoia rosnante. (…) [Sua] estatura física e espiritual não é a do homem pequeno como vítima, mas a do homem alto como encrenqueiro. Sua raiva explosiva tem pavio curto, e só temos a sua palavra para afirmar que ele é durão sem ser cruel. Aliás, é principalmente a sua falta de jeito em movimento que sugere sua vulnerabilidade. [Seu] suposto herói proletário torna-se ominosamente ameaçador naquela encruzilhada sombria onde a justiça social se cruza com a vingança pessoal.”
Do livro de canções de Bruce Springsteen, O Fantasma de Tom Joad, 21 de novembro de 1995: “Helicópteros da polícia rodoviária sobrevoando o cume. Bem-vindos à nova ordem mundial. Famílias dormindo nos carros no sudoeste. Sem casa, sem emprego, sem paz, sem descanso.”
ASSIM É QUE ELAS GOSTAM (ELLIOTT NUGENT, 1942)
“Fonda, com óculos de aro de tartaruga, quase que perfeitamente escalado. Felizmente, a trama é envolta em bastante comédia. Aqueles que reconhecem seu significado mais profundo o recomendarão aos amigos como imperdível.” (Variety, 4 de março de 1942)
Entre os roteiros de Este mundo é um hospício (Frank Capra, 1944) e Casablanca (Michael Curtiz, 1942), os gêmeos Epstein escreveram outra adaptação do palco para a tela: Assim é que elas gostam (1942). Na produção original da peça de sucesso de Elliott Nugent e James Thurber, o próprio Nugent interpretou o papel que agora é de Fonda: Tommy Turner, professor de literatura inglesa, bem-casado, bem-intencionado e bem-ajustado — até que “o mundo começou a tremer, grandes instituições tremeram e jogadores de futebol americano caíram sobre mim e minha esposa”. Tudo isso porque o professor Turner decidiu ler uma carta específica para sua turma, numa tentativa de mostrar que até mesmo um inglês ruim pode ser muito comovente e eloquente. Essa carta foi escrita em 1927 pelo anarquista Bartolomeo Vanzetti em sua cela de morte.
No início da guerra, Assim é que Elas Gostam discute infinitas nuances de masculinidade e “americanismo”, reconhecendo astutamente que a comédia destruidora de pratos e a discussão política, a ironia do caldeirão cultural e a retórica atrevida do mundo dos esportes funcionam melhor juntas. Há o medo dos “Vermelhos” se infiltrarem na universidade e um administrador “fascista” (Eugene Pallette) que gosta de construir estádios. Há uma feminilidade inteligente e divertida (Olivia de Havilland) e uma masculinidade orgulhosamente regressiva e semitóxica (Jack Carson). E há a percepção, por parte de Fonda, de que os nobres apelos à liberdade intelectual só podem melhorar com um forte contrapeso – idealmente, um solo de dez minutos regado a álcool, sobre o amor e o casamento, como ensinado por tigres, leões-marinhos e elefantes: “Faça alguma coisa, não fique aí parado! Até o p-p-pinguim, aquela coisinha, não tolera nenhuma brincadeira de macaco quando se trata da companheira dele!”
BATALHA DE MIDWAY (JOHN FORD, 1942)
A voz de Fonda é apenas uma entre muitas em Batalha de Midway (1942). A natureza polifônica deste curta documentário se estende à sua gama de formas, tonalidades e emoções: rostos de soldados de perto e aviões caindo em um campo visual descentralizado; “Red River Valley” e sugestões assustadoras de “algo por trás daquele pôr do sol”; triunfo americano e caixões americanos; encenação de profundidade de campo e linhas de enquadramento se destacando por completo, marcando o corpo do filme como um lembrete eterno de que “isso realmente aconteceu”. A coda (solicitada pelo presidente Roosevelt) parece uma voz do futuro: grandes pinceladas de cores pingando sobre a contagem das perdas japonesas, feitas no estilo de Jean-Luc Godard por volta de 1967/68.
A batalha de Midway foi um ponto de virada na Guerra do Pacífico, e as filmagens de John Ford passaram a ser vistas como um corte na carreira do diretor. Para Tag Gallagher, o trabalho de Ford depois da guerra mostra “a diferença, talvez, entre um homem que filma suas ideias e um que filma sua experiência”. Uma observação semelhante pode se aplicar à atmosfera pré e pós-1945 daqueles que estavam diante das câmeras e que também migraram para a frente de batalha. Em 24 de agosto de 1942, dez semanas após a Batalha de Midway e três semanas antes do lançamento do filme, Henry Fonda se voluntariou para o serviço militar.
ÊXTASE DE AMOR (OTTO PREMINGER, 1947)
“Otto é um homem querido, uma espécie de judeu nazista, mas eu o adoro.” O sofisma de Joan Crawford sobre seu diretor pode ter levantado suspeitas entre judeus e nazistas, mas não foi a razão pela qual a Legião da Decência lutou contra Êxtase de amor (1947) ou motivo pelo qual o interesse da crítica e os resultados de bilheteria foram tão baixos para esse ménage à trois com toques noir. O filme pode ter sido simplesmente “adulto” demais para o seu momento histórico. Hoje, não é mais conhecido, mas vários críticos vieram a considerá-lo uma das obras mais complexas e moralmente ambíguas de Preminger. Suas simpatias e críticas são distribuídas uniformemente — e mudam constantemente — entre os três protagonistas: Daisy (Crawford), uma estilista solteira e segura de si; Dan (Dana Andrews), um advogado de sucesso que trai a esposa — e cuja profissão permite que o filme destaque os campos de concentração dos EUA para cidadãos nipo-americanos durante a guerra (uma estreia no cinema de Hollywood); e Peter (Henry Fonda), um veterano de guerra instável, deprimido e viúvo que não reconhece mais Nova York e é assombrado por pesadelos. Fonda pode usar uma nova máscara aqui, escreve Devin Mc Kinney, “ao mesmo tempo em que gera tormento e sensualidade suficientes para sugerir que a máscara não é algo que lhe foi entregue, mas um rosto que ele trouxe consigo”.
Chris Fujiwara, em seu estudo sobre Preminger, celebra corretamente os “confrontos triplos” em Êxtase de amor e a maneira como “questiona que tipo de filme é. ‘Tudo bem, tenha sua tragédia, tenha seu melodrama’, Daisy diz a Peter, criticando sua tentativa de articular a sensação de perda aguda e irrealidade que experimentou após a morte da esposa e acusando-o de “tentar soar como um caso clínico”. Preminger “rejeita categorias e gêneros” para “criar espaço, para abrir o filme e os personagens para um mundo mais amplo. … O filme é sobre uma busca por lucidez”.
SANGUE DE HERÓIS (JOHN FORD, 1948)
A sétima colaboração entre Ford e Fonda, Sangue de heróis (1948), é uma proposta extraordinariamente rica. O historiador americano Richard Slotkin a considera “uma obra seminal de mitografia” uma obra seminal de mitografia”, nos Dispatches de Michael Herr representa o “momento mitopático” que a Guerra do Vietnã literalmente reencenaria duas décadas depois, e para o cineasta Jean-Marie Straub ilustra seu argumento sobre Ford como “o mais brechtiano dos cineastas, porque ele mostra coisas que fazem as pessoas pensarem ‘Droga, isso é verdade ou não?’ – em vez de apresentar-lhes imagens que lhes dizem o que pensar”.
No final de Sangue de heróis, esse ato de equilíbrio entre “verdadeiro ou falso” — a capacidade de ver e conhecer os tristes fatos do comportamento do tenente-coronel Thursday, ao mesmo tempo em que defende a disseminação de sua lenda como um guerreiro heróico — reverbera ainda mais fortemente do que em O homem que matou o facínora (1962), a versão posterior e mais famosa de Ford da mesma dialética. Aqui, é o ápice de várias oposições transformadoras: um filme de combate pós-Segunda Guerra Mundial, disfarçado de faroeste de cavalaria; um conto profundamente racista, adaptado para um filme que contempla não apenas um caminho para a paz com os apaches, mas também sua exploração por criminosos apoiados pelo governo; a vida doméstica em uma comunidade semimatriarcal de Fort vs. um protagonista rígido e autoritário do Leste (Fonda como o tenente-coronel Thursday), cujo desgosto com sua nova posição é claramente baseado em presunção de classe e ódio étnico.
Em Sangue de heróis, “[a] celebração da fronteira como berço da democracia americana é contida por uma crítica incisiva ao imperialismo americano. Esta é uma reviravolta notável para uma obra de cultura popular feita no auge do império americano no gênero que deu à Estados Unidos seu épico nacional. Os filmes de Ford são talvez as obras de arte política mais sofisticadas que a Estados Unidos já produziu porque eles entendem, com uma lucidez que não tem tempo nem para cinismo nem para moralização, a maneira como o mito e a retórica, a imagem e a ideologia funcionam em uma sociedade e em uma política. Eles sabem que uma comunidade precisa do mito para sua coesão e que uma democracia precisa trazer o mito à luz da razão crítica.” (Gilberto Perez, O Fantasma Material).
Enquanto os soldados deixam o Fort para o que será sua “última resistência”, três mulheres observam à distância, tentando identificar seus entes queridos. A esposa do Capitão Collingwood comenta sucintamente: “Não consigo vê-lo — só consigo ver as bandeiras”.
O HOMEM ERRADO (ALFRED HITCHCOCK, 1956)
Em Imagem e palavra (2018), de Jean-Luc Godard, um clipe de Henry Fonda — a alegria do jovem Sr. Lincoln ao descobrir um livro de direito — é logo seguido por uma cena do Fonda mais velho atrás das grades. Preso por uma lei injusta por um crime que não cometeu, ele agora é “o homem errado”: Manny Balestrero, marido e pai educado, cristão fiel, baixista do Stork Club e, de repente, o sujeito de um pesadelo da vida real. Sim, a experiência de Manny, incluindo os estranhos tipos de vergonha e culpa sentidos pelos acusados injustamente, é verdadeiramente “kafkiana”. Mas sua apresentação sóbria e objetiva na tela muitas vezes se aproxima mais de uma abordagem “bressoniana” do que de qualquer um dos maneirismos habituais dos filmes falso-kafkianos. Em vista de seu clímax – a oração de Manny, seguida por uma sobreposição dos rostos do inocente e do culpado – também podemos prestar atenção à afirmação anterior de Godard sobre o filme em sua Histórias(s) do cinema (1998): “Juntamente com Dreyer, Hitchcock é o único que sabe filmar um milagre”. É preciso uma coincidência, um milagre, para completar este procedimento policial invertido e identificar o verdadeiro vilão, que não é outro senão o próprio sistema legal. Da mesma forma, a verdadeira vítima não é Manny, mas sua esposa Rose, que – numa atuação impressionante de Vera Miles – acaba catatônica. Se a culpa e a inocência se tornam arbitrárias, o resultado é a loucura. Ao visitá-la no hospício após sua libertação, Manny fica chocado com seu estado inalterado: “Acho que eu esperava por um milagre.”
Considerando a carreira de Fonda caminhando na corda bamba entre a retidão e a ilegalidade, ao lado da metafísica de culpa e medo da polícia de Hitchcock, O homem errado (1956) parece um resumo perfeito de ambas as obras. Ao mesmo tempo, o filme foi frequentemente visto como algo atípico, principalmente pelo próprio Hitchcock que reconhece o caráter atípico do filme com uma rara declaração de abertura. Ele nos diz que “esta é uma história real, cada palavra”, referindo-se ao caso de identidade trocada de 1953 em que o filme se baseia. E, mais uma vez, é Godard, em sua crítica de 1957, que leva essa história da verdade um pouco mais adiante. Para ele, tudo começa com “a beleza do rosto de Henry Fonda”, cujo “único critério é a verdade exata. Estamos assistindo à mais fantástica das aventuras porque estamos assistindo ao mais perfeito, ao mais exemplar dos documentários”.
LIMITE DE SEGURANÇA (SIDNEY LUMET, 1964)
No início de 1963, quase imediatamente após o ímpeto apocalíptico da Crise dos Mísseis de Cuba, dois grandes filmes americanos sobre uma guerra nuclear acidental entram em produção. O engraçado, Dr. Fantástico (Stanley Kubrick, 1964), estreia primeiro. O não tão engraçado, Limite de segurança (1964), estreia menos de um mês antes das eleições de 1964 e traz Henry Fonda como presidente interino.
Fail-Safe se apresenta como um thriller puro, dinâmico e implacável. Um grupo de bombardeiros americanos está alcançando seus pontos de segurança designados nas fronteiras do espaço aéreo soviético quando um computador explode um chip e transmite um código de ataque. Enquanto oficiais americanos e soviéticos colaboram na perseguição aos bombardeiros, o presidente americano — instalado em um bunker da Casa Branca, conectado ao primeiro-ministro soviético por telefone — tenta, com crescente desespero, evitar o inevitável. (…) Emergindo primeiro como uma sombra alta e negra no corredor, o presidente é visto de trás enquanto seu jovem intérprete olha fixamente para sua nuca, o rosto reservado é uma mancha prateada na porta do elevador. Com Fonda confinado no bunker, Lumet usa a altura e a magreza de sua estrela geometricamente e, em seguida, avança com closes, vistas enormes como da perspectiva de uma mosca hipnotizada, enquanto Fonda tenta negociar o apocalipse por telefone. No seu ápice, “passado e presente se unem, e a epifania é criada – com nada além de uma mão, uma voz e uma sombra. Todas as intensidades submersas da história performática de Fonda retornam para preencher a cena, para expandir seus contextos dramáticos e políticos. (…) Gostaríamos de sondar o momento, desmontá-lo, encontrar suas engrenagens e molas. Mas é impossível: não conseguimos “ver” exatamente o que estamos vendo. Em vez disso, sentimos o que não estamos vendo — aquele zumbido da história, aquele tom de Lincoln ainda vibrando sob o ruído mecânico do Fail-safe, da vida americana como ela é agora, como está prestes a se tornar; um heroísmo que odeia matar, que em vez de se gabar de “Manda ver”, pergunta: “O que dizemos aos mortos?” (Devin McKinney, The Man Who Saw a Ghost)
VASSALOS DA AMBIÇÃO (FRANKLIN J. SCHAFFNER, 1964)
Em The Dream Life, seu livro sobre a mitologia dos anos 60, J. Hoberman descreve um arco de carreira e um arco político: Fonda acompanhou a trajetória do liberalismo atormentado enquanto fracassava naquilo que poderia ser chamado de sua trilogia JFK. Derrotado em sua tentativa de se tornar Secretário de Estado em Tempestade sobre Washington (1962) [de Otto Preminger], Fonda apareceu nessa posição em Vassalos da ambição (1964); rejeitado neste filme como candidato presidencial, ele retornou, a tempo para a eleição de 1964, como o agonizante líder do Juízo Final em Limite de segurança (1964).
Um filme sobre política na Sociedade do Espetáculo e sobre moralidade pessoal na política, Vassalos da ambição é dominado não apenas pela imagem de Fonda e seu legado de apoio à democratas progressistas como Helen Gahagan Douglas e Adlai Stevenson, mas também pelo som de Gore Vidal — o tecido denso criado por seus diálogos, seu humor cáustico, sua compressão descarada de diversas questões políticas nos poucos dias de uma Convenção do Partido com o objetivo de encontrar um candidato presidencial. Felizmente, o projeto perdeu seu diretor original, Frank Capra, cujas ideias pouco inteligentes para o filme perturbaram profundamente Vidal. (Ainda há um maravilhoso aroma do início de Capra na figura do ex-presidente: interpretado pelo tagarela Lee Tracy do Pré-Código, ele é uma relíquia inteligente da “era dos grandes caipiras”). Complementando a expertise política de Vidal, dois colaboradores com experiência em mídia foram contratados. O diretor Franklin J. Schaffner era relativamente novo no cinema, mas havia supervisionado e dirigido muitos programas políticos durante seus 15 anos na TV – desde grandes convenções partidárias até o tour de Jackie Kennedy pela Casa Branca. E o diretor de fotografia Haskell Wexler usou sua experiência em documentários enquanto já se preparava para Dias de fogo (1969), sua obra-prima do final dos anos 60 sobre uma Convenção Democrata. Começando como uma variação do tipo Drew-Leacock de Cinema Direto incorporado (seu “clássico de JFK”, Primárias (1960), foi filmado logo quando a peça original de Vidal, The Best Man (1960), se tornou um sucesso durante as Primárias de 1960), o filme termina com Fonda atualizando a noção de John Ford de “glória na derrota” para os anos 60: um sarcasmo de dois gumes, meio presunçoso, meio consciente na derrota. – “É claro que estou feliz que o melhor homem venceu.”
MAUDE’S MOOD: PART 1 (HAL COOPER, 1976)
Maude Findlay, uma mulher independente de Tuckahoe, Nova York, criou o título para esta série de filmes há 44 anos. Ela pode ter sido uma personagem fictícia com uma sitcom que recebeu seu nome, mas o homem dos seus sonhos e sua escolha para a eleição presidencial dos EUA em 1976 foi o decididamente real Henry Fonda. Assim, Fonda, como ele mesmo, precisa visitar a casa da família dela para lhe contar a verdade nua e crua (à maneira de Bartleby de Herman Melville): Prefiro não ir. A campanha de Maude implode, assim como as fantasias de metade da nação.
A diversão neste episódio de TV se torna um pouco amarga, não apenas porque Maude cai em depressão quando seu sonho é negado, mas também porque Fonda e seu velho amigo Norman Lear, o criador de Maude (1972-78), só conseguiam ver sua jogada como uma piada “irreal”. Hoje, a campanha fictícia de Maude para a candidatura presidencial de Henry Fonda pertence à rubrica de história alternativa. Mas, na década de 1970, o tipo de imaginação dela já havia se tornado um verdadeiro motor para estratégias eleitorais, e um ícone de tela muito menor que Fonda logo usaria esse motor direto para chegar à Casa Branca.
“[Ronald] Reagan é uma grande preocupação”, diz Fonda, um ano antes de sua morte, em 12 de agosto de 1982, em sua última entrevista com Lawrence Grobel: “O Reagan me aborrece tanto que é difícil falar sobre. Acho que estamos na direção do desastre. Fico surpreso que não haja mais oposição. Acho que agora ele nos botou num caminho em que vamos ficar por muito tempo. Ele diz as coisas que as pessoas querem ouvir. Ele as diz muito convincentemente e com o que soa como sinceridade. Ele está falando uma linguagem que as pessoas não escutam há muito tempo, e as impressiona. Eu escuto um discurso do Reagan e quero vomitar!”
Programação, minha bela inquietação
por Leonardo Bomfim Pedrosa
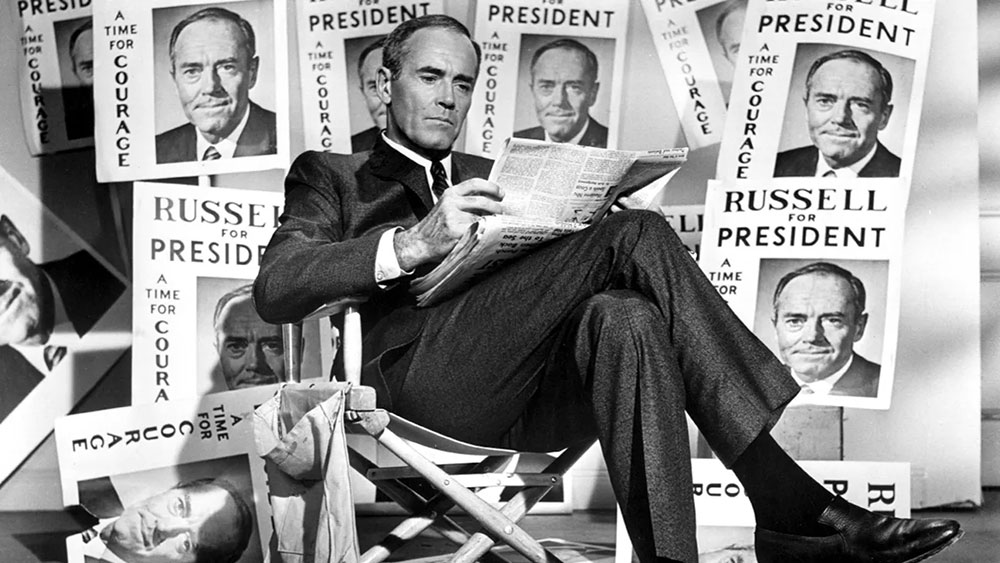
Entre as muitas vocações aventuradas em Henry Fonda para presidente (a historiografia, a biografia, a elegia, o ensaio, o ensino, a crítica, o road-movie…), há aquela que ocupa um lugar especial: a programação de cinema. Presença articuladora de inúmeros caminhos e inúmeras relações, a programação figura como a ponta da lança do grande desafio, o de saber governar a multidão de informações cinematográficas que podem se candidatar, a cada piscada de olhos, à inscrição definitiva em uma narrativa desenvolvida diante do canto sedutor da história do cinema.
Sob a diretriz de um pensamento de programação, um universo vasto e potencialmente monstruoso pode-se tornar um brinquedo estimulante. Nesse sentido, a condução metódica de Alexander Horwath não apenas reflete a certeza de um pensamento, mas a serenidade de uma imaginação favorecida pela intimidade com as peças e as regras do jogo. Se a ousadia investigativa é flagrante — uma narrativa de longo fôlego que percorre, ao mesmo tempo, a história de um país, a história de um ator e a história de um cinema —, sua organização torna-se exemplar: os desvios, as digressões, os fragmentos aparentemente aleatórios, as inserções estranhamente arbitrárias; todas as outras presenças convocadas à história jamais se tornam excessivas ou excedentes.
A consciência-programadora de que os filmes e seus agregados podem ser, na mesma medida, elementos subversivos e conciliadores na elaboração de uma história é decisiva para o estabelecimento de uma convivência pacífica entre a escrita ordenada de uma trama complexa, uma escrita sem enigmas, e os fragmentos quase intrusos que podem sequestrar a atenção do espectador ao longo da jornada, criando provocantes fricções. Penso, por exemplo, no plano pinçado de As três noites de Eva (Preston Sturges, 1941), aquele da mão erótica de Barbara Stanwyck e de seu cafuné demorado na orelha de Henry Fonda. Trata-se de uma convocação extraordinária, de um súbito e inesperado convite para que se possa sair de Sangue de heróis (John Ford, 1948) e chegar a Paixão dos fortes (John Ford, 1946) no ventre de uma viagem cronológica e linear na história americana, em uma coleção de filmes que parecia ser exclusivamente formada pelo universo de John Ford. Ou, ainda, na estranha sugestão da sessão dupla de Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) e Ao rufar dos tambores (John Ford, 1939), em uma reunião de imagens que parece, num primeiro momento, absolutamente forçosa, um sintoma agudo de compulsão cinéfila, mas que será recontexualizada com maestria em outra etapa do percurso.
***
Cavoucando as anotações no diário de adolescência, Horwath encontra o ponto de partida para a organização de seu pensamento justamente na programação das salas de cinema. As recordações documentadas tornam-se referências concretas das premonições e fantasias na carta de intenções: o verão de 1980, as férias com a família, os primeiros contatos com os personagens de Henry Fonda nas salas parisienses, os contrapontos e as ressonâncias testemunhados na televisão do quarto de hotel. Naqueles dias, as sessões de O homem errado (23 de julho), Era uma vez no Oeste (27 de julho) e As vinhas da ira (1º de agosto)1 candidataram-se à eternidade na memória do adolescente austríaco. Não é apenas a revisitação dos anos de formação que será situada como primeira fagulha de inspiração, mas especialmente o fato do início da relação com a figura do ator ter sido mediada pela programação de cinema.
Na sala escura, ainda que sem a dimensão concreta do que vive, o jovem descobridor é aturdido pela sensação de que outra imagem está à espreita na próxima esquina. Outra imagem potencialmente contraditória, complementar, redundante, desviante, terrorista, amigável, entre mil e uma possibilidades, e que precisará ser colocada em diálogo a partir da ativação criadora na memória. Na sala escura, alguém aprende para sempre que um filme não existe sozinho, pois assisti-lo nessas condições é vê-lo, acima de tudo, num contexto: em uma determinada rua de uma cidade, em uma determinada data de um ano, em uma determinada combinação de uma programação que pode ser chacoalhada pelo acaso com novas combinações provocadas por outras programações.
Aos 15 anos, longe de casa, no verão de 1980, momento em que Reagan aceitava a missão de “recomeçar o mundo outra vez” e as significativas Olimpíadas de Moscou eram realizadas, Horwath viu sucessivas transmutações de uma figura sedutora que acabara de conhecer. Viu o homem de fé com a consciência atormentada, viu o pistoleiro de aluguel com instinto assassino, viu o líder de uma insurreição em busca da justiça social. Viu Fonda em diferentes lugares, viu Fonda com outras caras, idades, viu os olhos azuis e a pele enrugada, viu-o no esplendor da beleza, no chiaroscuro das últimas décadas de reinado do preto e branco hollywoodiano. A programação de cinema, enfim, possibilitou ao jovem a descoberta arrebatadora de um corpo, de uma voz, de gestos recorrentes, de um nome marcante nos créditos iniciais, como uma experiência de multiplicidade, quando um mesmo e um outro surgem amordaçados na mesma prancha da retina.
A consciência programadora confirma-se como aquela que possibilita que a negociação com a multidão alvoroçada nos portões da história do cinema seja um ato de criação ao mesmo tempo organizador e desestabilizador. A experiência de multiplicidade deixa de ser um abismo vertiginoso e torna-se uma ferramenta convidativa. Décadas depois do primeiro encontro com o ator, no período em que ocupou o cargo de diretor do Filmmuseum austríaco, Horwath defenderá, em entrevista traduzida para este dossiê, a importância da interação de pequenas e grandes células em uma programação de filmes. Não seria exatamente esse o ponto estruturante de Henry Fonda para presidente?
***
Há alguma justiça histórica quando a relação com o filme também é mediada pela programação de cinema. Vi Henry Fonda para presidente pela primeira vez em 24 de abril de 2024 no BAFICI, Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, em uma sala situada na mesma região onde, um dia antes, milhares de pessoas ocuparam as ruas na primeira grande manifestação contra a “política da motosserra” do presidente argentino Javier Milei. Naquele 24 de abril, momento do festival inevitavelmente marcado pelas reverberações da mobilização ocorrida na véspera, a grilla de programação incentivou um programa duplo. Com a exibição de Favoriten (2024), o novo filme de Ruth Beckermann, no início da tarde, os programadores possibilitaram que esses dois filmes produzidos ao mesmo tempo (as máscaras atestam a realidade pandêmica das produções) por realizadores austríacos próximos (o nome de Beckermann é o primeiro na lista dos agradecimentos de Horwath) fossem vistos quase em sequência.
Ter contato com os Estados Unidos de Fonda logo depois de Favoriten significa vê-los sob a influência desse documentário que acompanha, durante três anos, o trabalho de uma professora de uma escola pública de Viena repleta de filhos de imigrantes de diversas nacionalidades, no frenesi exaustivo e estimulante da sala de aula. A partir desse encontro, pode-se delirar que estamos diante da querida Clementine de Ruth Beckermann, mas, acima de tudo, tem-se a dimensão exata de que o mundo dessas crianças deslocadas, desse ameaçador início do século vinte e um, é inteiramente contemporâneo das paisagens filmadas do outro lado do oceano por Horwarth, durante a dobra no tempo na viagem de Henry Fonda para presidente.
Nesse contexto, a evocação insistente da transmissão televisiva do discurso de Ronald Reagan não produz sensação de fantasmagoria, e muito menos se reivindica como registro histórico, ao contrário da imagem do atleta alemão vencedor nas Olimpíadas, uma espécie de ruína audiovisual do velho mundo. Trata-se, notadamente, do documento de um dos marcos fundacionais da era que condicionará, em um futuro não tão distante, a realização de filmes militantes como Favoriten e Henry Fonda para presidente, em um período de confirmação da ascensão e sedução da extrema direita — em setembro de 2024, o ano de lançamento dos filmes, o Partido da Liberdade da Áustria, de plataforma anti-imigração e xenófoba e raízes nazifascistas, ratificou o crescimento de popularidade e conseguiu a vitória nas eleições gerais do país. Se os dois buscam, em realidades fílmicas completamente diferentes, exemplos heroicos em uma paisagem sombria, é porque compartilham certo estado de desespero.
Quase um ano depois da experiência portenha, a revisão do filme, após a solicitação do texto para a Sessão Babel, em fevereiro de 2025, coincidiu com outro encontro instigado pela programação de cinema. Naquele mês, foi apresentada a Sessão Mutual Filmes, no IMS, intitulada O forasteiro Sterling Hayden: Johnny Guitar e Farol do caos2, com as restaurações do clássico de Nicholas Ray e do documentário pouco visto da dupla alemã Wolf-Eckart Bühler e Manfred Blank, filmado no início dos anos 1980, quando o ator vivia em um barco na França.
Novamente as coincidências se impõem: dois filmes que estabelecem linhas biográficas sobre atores marcantes do cinema hollywoodiano, pouco antes de suas mortes; dois filmes que recorrem à entrevista como recurso narrativo; dois filmes sobre cinema feitos por germânicos; dois filmes que situam Ronald Reagan como presença ingrata, etc. A combinação involuntária com tantos encaixes é capaz de sugerir outra sombra na figura heroica de Fonda e uma inevitável interrogação: como seria a jornada pela história do país se o candidato-protagonista não fosse o “homem confiável, leal e íntegro”, o americano ideal encarnado pelo ator, inclusive em suas contradições milimétricas; mas o sujeito confuso, caótico, picaresco, o partisano e delator, o marginal que deu vida a Johnny Guitar? Como seriam os Estados Unidos de Hayden? Em Farol do caos, é desconcertante testemunhar o desnudamento do ator diante da voracidade historiadora dos documentaristas. Em oposição às máscaras do homem certo e do homem errado tão bem manipuladas por Fonda em sua vida e obra, inclusive nas entrevistas, não vemos nada além de um homem. Sua sensibilidade delirante e os insights alcoolizados trazem à tona o mesmo contraponto vilanesco, a figura do ex-ator de segundo escalão que se tornou presidente dos EUA; e então o filme de Bühler e Blank, como um espelho sujo e distorcido, ajuda a escancarar um dos elementos mais políticos do filme de Horwath: a “utopia” reaganista foi vencedora, lacrou os rumos do século vinte e modelou a cara do vinte e um. Apesar disso, levando em consideração o percurso reflexivo proposto desde o retorno a 1650, parece mais justo pensar em Fonda — e tudo o que a sua imagem representa — não em termos de derrota, mas de uma strange victory que começou a perder seu lugar no mundo já nos primeiros disparos do alarme dos anos 1980. É o real pesadelo dessa história.
___________
1 O homem errado (Alfred Hitchcock, 1956), Era uma vez no Oeste (Sergio Leone, 1968) e As vinhas da ira (John Ford, 1940).
2 Johnny Guitar (Nicholas Ray, 1954) e Farol do caos (Wolf-Eckart Bühler e Manfred Blank, 1983).
Entrevista com Alexander Horwath: Sobre Programação e Cinema Comparado
por Álvaro Arroba (em colaboração com Olaf Möller)
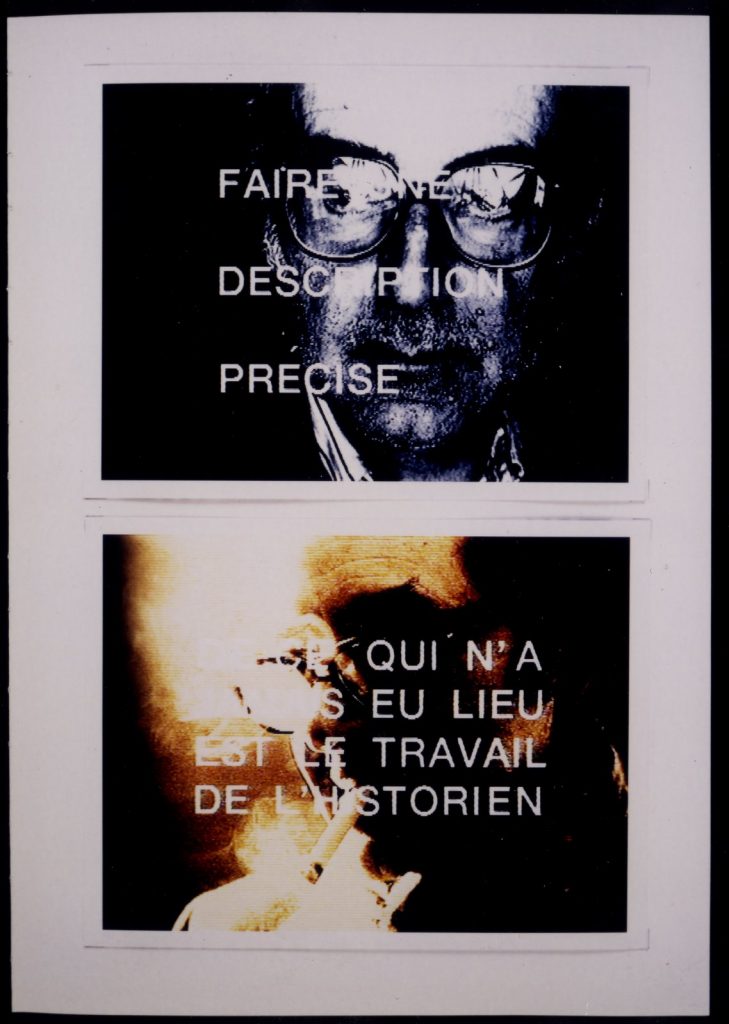
Publicada em 2012, a entrevista foi realizada pelo crítico e programador espanhol Álvaro Arroba, em colaboração com o programador alemão Olaf Möller, na sede do Filmmuseum, em Viena. Na época, Alexander Horwath dirigia a instituição. A conversa integrou a primeira edição da revista espanhola Cinema Comparat/ive Cinema, editada pelo Colectivo de Investigación Estética de los Medios Audiovisuales (CINEMA) da Universitat Pompeu Fabra, com foco no tema da programação de filmes. Todos os textos do dossiê, alguns deles mencionados na entrevista, podem ser lidos no site da revista:
http://www.ocec.eu/cinemacomparativecinema/index.php/en/2-principal/73-contents-n-1
Neste primeiro número da revista, decidimos pegar a intervenção de Jean-Luc Godard na Cinemateca Suíça, em 1979, como ponto de partida de uma série de discussões entre críticos e curadores de cinema sobre a tarefa da programação; e alguns ciclos específicos como formas de cinema comparado. Gostaríamos de iniciar essa conversa perguntando se você compartilha a opinião de Godard sobre o papel das Cinematecas. Quando você dirigiu o Filmmuseum, havia um impulso similar?
A.H.: Devo começar dizendo que não creio compreender o texto de Godard inteiramente. Mas uma das coisas que ele destaca e que “entendo” é que o significado é criado através da comparação entre duas coisas. Apresentar conjuntamente dois filmes produz algo novo, e isso é obviamente significativo para todo tipo de programação. No entanto, creio que seria um erro reduzir o significado a essa união de dois; um agrupamento de dez ou vinte – em um programa de curtas-metragens ou uma série mais longa – pode ser igualmente produtivo.
Também compartilho a opinião de que uma cinemateca ou um museu do cinema, ou qualquer museu na verdade, devem entender-se como um lugar de produção, e é justamente isso que está no âmago do texto de Godard. Mas há dois aspectos específicos de sua noção da escrita da história e da crítica que me parecem dignos de uma “inspeção” mais detalhada, pois parecem cair em uma contradição. Refiro-me ao seu ideal historiográfico e a sua ideia de comparação.
Seu modelo implícito para a escrita da história e da crítica parece ser a crítica literária e a historiografia da literatura. Isso ocorre porque se utiliza a mesma forma de expressão que a das obras que estão sendo criticadas: por exemplo, a linguagem escrita sobre a literatura. A julgar pelo desinteresse de Godard em relação às histórias escritas sobre o cinema, e, por outro lado, seu interesse na produção de filmes como historiografia cinematográfica, fica evidente o esforço para obter esse modelo também no cinema. Os tipos de crítica e escrita da história “habituais” – escrever sobre música, pintura, cinema, etc. – não utilizam o mesmo meio que as obras das quais falam. Isso não as impediu de que se convertessem em tradições intelectuais importantes, mas sempre tiveram que lidar com o problema persistente da transmissão de um determinado meio a partir das formas de outro. Assim, há gente que diz que “escrever sobre música” ou “escrever sobre cinema” é tão limitado ou tão impossível como “dançar sobre arquitetura”. Nicole Brenez disse certa vez que a melhor crítica de um filme é outro filme, o que significa que os melhores críticos de cinema e historiadores seriam os próprios cineastas, ou ao menos aqueles que fazem cinema a serviço do cinema como tal. E assim também é como Godard entende, quando diz que “não há diferença entre fazer cinema e escrever a história do cinema”, que “o cinema escreve sua própria história ao fazer-se”.
Em relação à comparação, no entanto, ele utiliza um modelo diferente, e mais ou menos baseado na pintura e na história da arte. Quando fala da comparação entre filmes, pensa em duas imagens uma ao lado da outra, como em uma exposição pictórica, com a finalidade de “indicar certas relações no momento em que são vistas”. Godard pensa que temos que chegar ao mesmo tipo de comparação no cinema: por exemplo, ter uma imagem de Sergei Eisenstein e uma de D. W. Griffith, uma ao lado da outra. Então admite que “a colocação de uma sala de cinema ao lado de outra é algo bastante difícil”, mas estamos no final dos anos 1970, e Godard acaba de descobrir um novo meio, o vídeo, no qual os filmes agora podem ser colocados um ao lado do outro, “e ser comparados”. O que ele não vê, ao menos do meu ponto de vista, é que um meio temporal como o cinema produz sua própria forma de comparação e o faz de uma maneira completamente diferente. Se aceitarmos a integridade das obras, a única forma de comparar as obras cinematográficas é consecutiva: não “uma ao lado da outra”, mas uma depois da outra. Temos que comparar no tempo, não no espaço. Por isso, a memória simplesmente não pode ser descartada: é a base para a comparação de uma coisa depois da outra. Quando dá exemplos em seus cursos em Montreal, ele faz exatamente isso: põe um filme depois do outro. Mas Godard considera que de alguma forma isso limita, então converte o vídeo em uma espécie de salvador, mas sem reconhecê-lo como uma forma de expressão e como uma forma dispositiva muito diferente do cinema…
Além disso, o exemplo da “imagem de Eisenstein ao lado da imagem de Griffith” reduz o cinema ao aspecto das imagens e, ainda, às imagens estáticas. As questões de temporalidade, o ritmo ou o som precisariam ser omitidas; e chegaríamos exatamente ao lugar onde se encontram os que “escrevem sobre música” e “dançam sobre arquitetura”. Se alguém pensa sobre a música e como duas obras musicais podem ser criticamente comparadas, é imediatamente evidente que isso só pode ocorrer consecutivamente e não as colocando “uma ao lado da outra”, ou talvez como a exceção de aqueles poucos trabalhos nos quais diferentes “músicas” realmente são executadas paralelamente ou uma contra a outra, como nas atuais práticas de mash-up ou em algumas obras do compositor americano Charles Ives no começo do século vinte. Duas obras musicais não podem ser realmente co-apresentadas, e o mesmo ocorre com o cinema. A menor fração de música ou de cinema se converte em memória logo que passa, e para mim essa é uma das coisas essenciais a ter em conta quando se pensa em uma “historiografia comparada” que realmente quer ser fiel ao meio que trata.
Pessoalmente, também estou de acordo com todas as demais formas não cinematográficas de comparação e de “escrita sobre”… Claro, podemos apresentar filmes de maneira produtiva, um ao lado do outro, em dois monitores, ou criar textos escritos úteis sobre cinema, inclusive, muito poeticamente, História(s) do cinema, do próprio Godard, que foi desenvolvido a partir de suas experiências em Montreal, é um perfeito exemplo disso. E hoje vemos muitos websites ou instalações multitelas em que várias imagens em movimento estão presentes conjuntamente. Só estou buscando assinalar que isso não é cinema, é outra forma de expressão.
Então você diria que História(s) do cinema não é cinema em si mesmo…
A.H.: O tema de História(s) do cinema é o cinema, mas sua forma é o vídeo. Um fantástico vídeo, devo acrescentar. Aqui, muito do que Godard faz tornou-se possível para ele a partir de meios e métodos de trabalho diretamente relacionados com o vídeo. Mesmo que suas ideias sobre confrontar e reelaborar múltiplos fragmentos de filmes, palavras, imagens, textos, etc… sejam muito anteriores, só se converteram em uma prática concreta para ele com esse novo meio. Godard poderia também ter considerado as opções do cinema experimental, o found-footage, mas nunca o fez. A mera existência do vídeo como um conjunto de ferramentas o fez pensar dessa maneira: certas formas de reunir imagens, sobrepor diferentes fontes e fazê-las mudar, misturando uma na outra… Curiosamente, em Histórias(s) ele não utiliza o enfoque das “imagens lado a lado” tão recorrentemente como se poderia pensar depois da leitura do texto de 1979. Quase tudo está sustentando consecutivamente, ao menos no que se refere às imagens.
O.M.: Mas tudo o que ele faz, poderia ter sido feito também a partir do cinema.
A.H.: Não creio. História(s) do cinema está cheio de movimentos estéticos específicos que só a máquina de vídeo permite fazer, certos efeitos que jogam com a cor, por exemplo.
O.M.: Mas já tínhamos visto isso em filmes de vanguarda! Só que é mais complicado fazer no cinema, pois leva mais tempo.
A.H.: Sim, mas se pensarmos em um filme de Len Lye, por exemplo, sempre se “fala sobre” seus métodos específicos de criação; o jogo de cores em Len Lye é também um discurso sobre a impressão da película analógica. E o mesmo acontece com História(s) do cinema, só que em um meio diferente. Em um nível temático, esse trabalho pode falar sobre cinema, mas como qualquer obra artística autoconsciente, também aborda suas próprias ferramentas, falar sobre a sua própria criação por essas ferramentas. No fim, isso significa que História(s) do cinema fala da transformação ou reparação do filme/cinema mediante outro conjunto de meios. A imagem de Godard sentado diante da máquina de escrever eletrônica, que é relativamente proeminente no início, junto com o som específico que ela produz, me parece uma alegoria dessa remediação. Para Godard, o “método do vídeo” supera o pesado trabalho da mesa de edição analógica. Para ele, o vídeo se torna algo como uma câmera-caneta de hoje em dia, uma máquina de escrever eletrônica flexível que está a serviço do autor de maneira muito mais direta do que se pensou possível no cinema.
Hoje existe uma ampla gama de mal-entendidos e desconhecimento quando as pessoas assistem a obras experimentais. Alguns cineastas como Peter Tscherkassky, por exemplo, utilizam as propriedades da película analógica – e somente dela – de forma muito específica em suas obras. No entanto, o público atual de Tscherkassky geralmente pergunta quais ferramentas digitais ou qual software ele usa para os efeitos que consegue. Hoje em dia, parte-se do princípio de que se trabalha sempre com meios digitais. Acho que isso tem muito a ver com o fato de que não estamos aprendendo a história do cinema e de outros meios de imagens em movimento da mesma forma profunda com que aprendemos a história da arte. Quase não há nada sobre a história material das imagens em movimento, exceto em algumas cinematecas, porque ainda estamos obcecados com as noções de “conteúdo” e “transparência” quando pensamos no filme. Na história da pintura e da arte, é muito comum falar da parte dispositiva e das propriedades materiais da obra como um aspecto central de sua temática. Ensina-se como o próprio processo de produção se imprime no produto, como a compreensão do produto é inseparável dos materiais e das “máquinas” que lhe deram vida. E isso não é ensinado de forma alguma em relação às imagens em movimento.
O.M.: Acho que em História(s) do cinema Godard vê o vídeo através dos olhos do cinema, em vez de trabalhar a partir das particularidades do vídeo para ver o cinema.
A.H: Tomemos como referência o fato de que estamos no meio de uma fase de recuperação. Segundo Bolter e Grusin, que escreveram um livro sobre isso, sempre ocorre um grande mimetismo quando um meio alcança, mediante de uma lenta “ruptura”, um meio mais antigo, como o cinema durante seus primórdios. O cinema digital, hoje em dia, além da sua autodeclaração promocional de ser “melhor” do que a película analógica, obviamente se esforça para imitar as formas básicas e os efeitos do filme. Haveria o risco de perder o público consolidado do cinema mundial se fosse evidenciada ou encenada a diferenciação, muito mais contundente, que o digital é potencialmente capaz de fazer em relação ao cinema. No entanto, acredito que com Godard é um caso diferente. Godard queria ver a história do cinema, mas, como deixa claro no texto de 1979, sentia que ainda não tinha as ferramentas adequadas. Não estava satisfeito com a forma como trabalhou em Montreal. Embora, em minha opinião, a situação ali era bastante ideal, ao menos pela disposição dos elementos básicos necessários para falar de cinema com o próprio cinema. Vejo todo o projeto de Montreal como um exemplo importante das capacidades educativas ou historiográficas de um museu de cinema ou arquivo fílmico. Mas parece que ele não acreditava realmente no que essas instituições podiam ou estavam dispostas a fazer. Com o vídeo, Godard já não necessita de uma instituição; assume o papel de poeta-escritor individual da história das imagens em movimento. É o que ele queria fazer desde o começo; a instituição era apenas um mal necessário para ele – e só por um breve momento.
Estou de acordo em parte com Olaf, portanto, quando ele diz que em História(s) Godard não está tão interessado em transformar as capacidades únicas do vídeo em um tema em si mesmo, ou, pelo menos, não explicitamente, pois está muito ocupado com o cinema e sua relação com as artes clássicas e com a história do século XX. O novo meio torna-se um dos temas principais, mas apenas de forma implícita. Por isso, trata-se de um trabalho “tardio” ou melancólico: suas principais energias estão dirigidas a revisar as marcas de sua vida, sua socialização cinéfila, sua compreensão de meio século de cinema. O fato de que ele utiliza uma tecnologia “pós-cinemática” e uma abordagem “paracinemática” para isso pode ser apenas uma decisão prática. Mas para mim, como espectador, ainda é um dos aspectos mais fascinantes da obra.
O.M.: Acho que ele trabalhou com vídeo porque era uma tarefa menos intensa e mais fácil do que fazê-la em filme, e porque, para ele, essa é a maneira mais próxima da escrita. Não é apenas uma questão de textura, mas também uma questão de trabalho.
A.H.: Pela minha experiência, creio ter descoberto que a programação de cinema como historiografia, como uma “promulgação” da reflexão histórica sobre o filme, pode ser feita definitivamente no contexto de uma cinemateca. Como já mencionei, talvez até seja o único lugar onde isso realmente possa acontecer, desde que se busque um discurso que se articule na mesma “linguagem” daquilo que está sendo relacionado. Para isso, é necessário que haja um conjunto de elementos: cópias dos filmes, tecnologia, um tipo de espaço e certa quantidade de tempo… Com um sistema de trabalho, é possível criar algo que não seja apenas uma simulação ou uma referência indireta, mas um exemplo real de articulação cinematográfica. É possível mostrar obras completas, mas também, para fins de concentração, pode-se apresentar um trecho ou um rolo de filme. Pode-se querer estruturar os termos do discurso apresentando vários filmes em sequência, alternando trechos e longas-metragens, etc. Ou pode-se romper com o modelo e falar durante as exibições… O espaço dessa experiência é, em geral, fixo, mas às vezes a experiência depende do curador de cinema. Claro, cada filme tem seu próprio tempo, mas a busca por uma comparação ou o desenvolvimento de ideias e argumentos pode levar a soluções temporais muito distintas. Acredito que essa é a base do meu trabalho e, se compreendo bem, também é a base de como Godard queria se aproximar da história do cinema antes de se apaixonar pelo vídeo.
O.M: É preciso dizer que a história do cinema gosta de se articular por meio de dicotomias: Méliès contra Lumière, Eisenstein contra Vertov, etc. Mas acho que essa é, no mínimo, uma ideia muito limitada. A ideia de sessões duplas é bastante atraente, mas o que me parece ainda mais interessante é a construção de um programa conjunto com dez sessões duplas. Assim, não são apenas dois filmes que podem dialogar entre si; estou mais interessado em forçar os campos para a criação de espaços intelectuais. Programar apenas um filme em relação a outro é algo muito limitado. Interessa-me tudo que tenha algum tipo de narrativa, pois me interesso pela história e por refletir sobre essa história. Isso é algo que não se pode fazer bem com apenas dois filmes, pois nos conduz a uma observação simplificada.
A.H.: Provavelmente essa é a razão pela qual o programa de curtas-metragens se tornou o meio preferido de expressão dos curadores de cinema. Quase não existe literatura sobre programação de cinema, mas na maioria das vezes, quando os programadores tentam refletir sobre sua própria prática, fala-se do modelo de 90 minutos ou duas horas de programação, ou seja, não apenas dois, mas 8, 10 ou 15 curtas que entram em cena e criam um diálogo entre si. O que geralmente não se considera, no que diz respeito aos desafios e ao apelo da curadoria de cinema, é que o mesmo potencial discursivo pode ser aplicado a uma série de longas-metragens – embora o público e os programadores precisam estar plenamente conscientes da quantidade de tempo envolvida. A tendência é pensar em blocos de 90 ou 120 minutos de tempo livre, que é mais ou menos o “formato temporal” que orienta uma visita a um museu de arte, a um concerto ou a uma sessão de cinema. Então, para levar a sério o que o Olaf sugere, com filmes de todas as durações, seria necessário levar em conta as exigências de tempo enormemente diferentes envolvidas. Se pensarmos em 8 ou 10 sessões duplas, também temos que pensar em cerca de 30 horas de exibição… Esse é o segredo sombrio e silencioso de todas essas comparações entre as diferentes formas de arte e as práticas curatoriais. Pode parecer trivial, mas explica por que um ciclo retrospectivo completo de cinema nunca será o mesmo tipo de “blockbuster” de público que pode ser uma exposição em um museu.
O.M.: Na verdade, leva-se muito mais tempo. É preciso considerar não apenas o tempo da exibição, mas também o tempo de ir até a sala e voltar para casa, e depois – com sorte – o tempo para refletir sobre o que foi visto. Então, assistir a um programa com o enfoque adequado ao longo de semanas é um enorme trabalho e um esforço de memória. No final, a pessoa ainda precisa ser capaz de lembrar-se do primeiro filme assistido, já que ele estará relacionado ao último. Até certo ponto, é necessário manter-se intelectualmente ativo durante três semanas para um único programa. E isso é muito exigente – o que é algo bom.A.H.: Quando se formulam certas necessidades como essas, começa-se a estabelecer uma relação completamente diferente com o público. É o oposto da maneira como muitas instituições de arte operam atualmente. Elas preferem lidar com grandes massas, muitas vezes turistas, anunciando que em apenas duas horas será possível obter o máximo conhecimento sobre o impressionismo francês ou as obras de Vermeer… Assim, é evidente que há uma lógica diferente no cinema em comparação à exibição na história da arte. Mas, como dissemos antes, também existem outras formas mais concentradas que permitem experimentar um argumento histórico sobre o cinema: por exemplo, os formatos educativos que trabalham com trechos, os programas de curtas, ou o modelo de simplesmente mostrar dois filmes que dialoguem entre si. Ontem projetamos La Jetée (Chris Marker, 1962) junto com Déjà Vu (Tony Scott, 2006). Alguém poderia dizer que a mais-valia estética e intelectual obtida nessa relação entre duas obras é muito limitada. Mas, por outro lado, programas com esse foco também podem ser essenciais para a compreensão de projetos maiores e mais ambiciosos. Caso existam apenas os grandes “programas comparativos”, sem um programa-núcleo menor, mais “focalizado”, será muito mais difícil fazer entender-se para além de um grupo pequeno de pessoas.
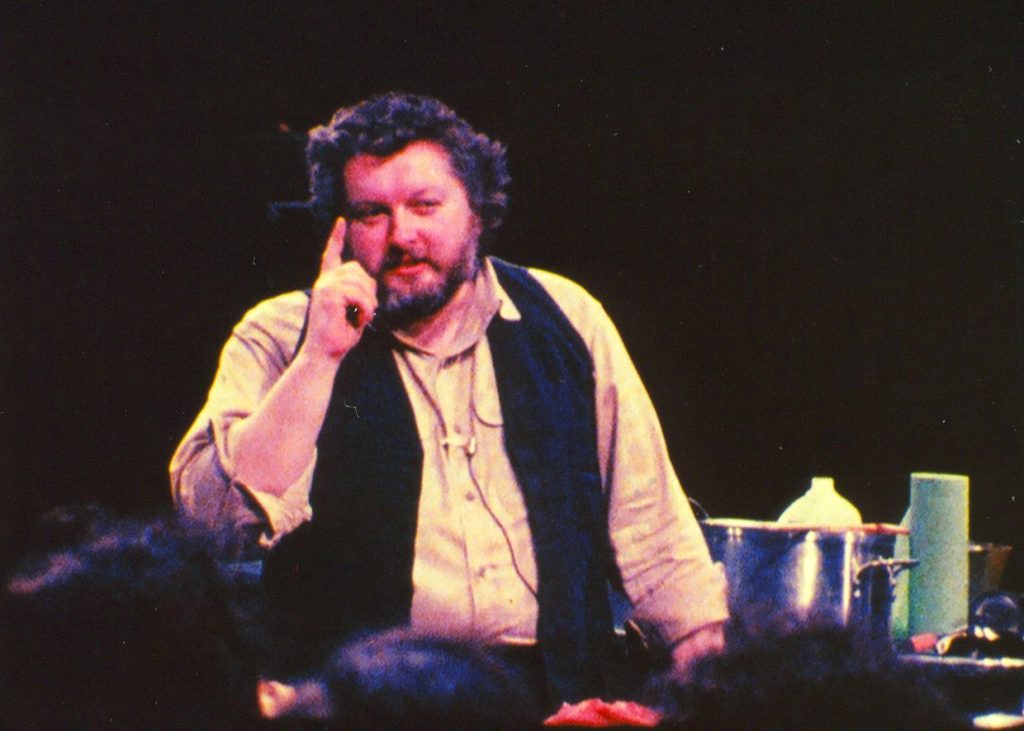
Também há o caso do ciclo de Peter Kubelka Was ist Film, que consiste em 63 programas e dura um ano e meio, com uma sessão por semana. O mais comentado sobre esses programas é a combinação que Kubelka faz entre O triunfo da vontade (Triumph des Willens, Leni Riefenstahl, 1935) e Flaming Creatures (Jack Smith, 1963). É o caso mais extremo dentro do seu ciclo, pois um filme “golpeia” o outro com tanta força que faíscas saltam e isso possibilita o surgimento de pensamentos novos e inesperados. É um exemplo muito claro de como Kubelka gosta de olhar para o meio cinematográfico. Mas, ao mesmo tempo, não é de forma alguma um caso típico do ciclo em seu conjunto. É possível que funcione muito bem por si só, mas não representa a totalidade do projeto. As nossas cinco projeções dos filmes de Tony Scott e Chris Marker, que representam um capítulo da série Utopie Film, são um caso muito mais simples. Queríamos prestar homenagem a dois cineastas muito interessantes que faleceram neste verão. A ideia não era dizer que suas obras são semelhantes, mas que poderia ser produtivo aproveitar uma coincidência triste e ver esses dois cineastas “lado a lado”, com três filmes de cada um, apesar de os debates cinematográficos geralmente colocá-los em extremos opostos do espectro. Senti-me sortudo – ou apoiado – pelo fato de que La Jetée e Déjà Vu na verdade se cruzam em seus interesses temáticos, ou seja, viagens no tempo ou a vertigem do tempo. Já é o suficiente. Então, o nosso trabalho geralmente consiste em uma interação entre pequenas e grandes células de programação.
Depois, há também o trabalho educativo, que se dirige a um público diferente, mais específico do que o dos nossos programas da tarde. Por exemplo, enquanto falamos, há um programa escolar dedicado ao Anime. Gosto de ver esses elementos como uma pista paralela que, com o tempo, poderá conectar os espectadores ao que fazemos nos nossos programas “regulares”. Suponho que essa seja a esperança idealista de qualquer pessoa que esteja ativa num contexto educativo – que um jovem de 14 ou 16 anos, durante uma projeção escolar matinal, seja introduzido pela primeira vez à ideia ou ao conceito de comparar diferentes filmes em projeções consecutivas, pois isso poderia levá-lo a voltar e estudar outros elementos do programa. Ou até mesmo levá-lo a estudar cinema seriamente aos 18 ou 20 anos, como criador ou como crítico. Sempre serão poucos os que farão isso entre esses alunos, mas, após onze anos de trabalho aqui, posso dizer que a cada ano há alguns que acabam realmente “infectados” pelo cinema a partir desses programas escolares ou universitários, e acabam tornando-se membros profissionais do panorama cultural cinematográfico em Viena.
Isso nos conduz a outro texto que serve de base conceitual para o primeiro número da revista, no qual Langlois explica como reavaliou seu critério sobre Ozu e descobriu seu verdadeiro valor, ao projetar bobinas de seus filmes com outras de Mizoguchi e Kurosawa em suas aulas: graças ao contraste, ele pôde apreciar melhor o estilo e o alcance dos filmes de Ozu.
O.M.: Sim, também é preciso lembrar que isso aconteceu num momento em que havia menos conhecimento sobre o cinema. Não devemos esquecer que existe uma falsa dicotomia entre Mizoguchi e Kurosawa, e a apreciação do cinema japonês vivia sob clichês como esse. Dessa forma, novamente, coloca-se Ozu no meio e algo fundamental se transforma. No entanto, estou certo de que essa observação realmente só funciona em determinados contextos históricos.
A.H.: Eu também acredito na importância de levar em conta que se tratava de um momento histórico particular. As cinematecas e os museus precisavam experimentar modelos diferentes como o que você menciona, mas, ao mesmo tempo, é importante entender que em torno de 1970 – que é provavelmente quando surge essa “cena Langlois” – as cinematecas eram praticamente o único lugar onde se podia realmente vivenciar a história do cinema, para além da leitura de livros e revistas. Não se pode ignorar o fato de que hoje nos deparamos com uma situação completamente diferente. Existe a ideia, mesmo entre um público mais amplo, de que estamos rodeados por todos os materiais que possibilitam o conhecimento da história do cinema. Isso não é necessariamente verdade, mas há a sensação de que, depois da televisão, do vídeo, do DVD, e agora da Internet, temos tudo na nossa mão… Se eu quiser ver como é um filme de Mizoguchi, preciso apenas de alguns segundos: vou ao YouTube e encontro vários trechos para escolher. A pessoa vê um movimento de câmera específico, lê que aquilo é um “plano Mizoguchi” e se sente informada. Essa é, ao menos, a crença transmitida pela Internet. Então, o que dizer da geração de 1971, por exemplo? O que eles tinham à disposição no mundo de língua alemã? Havia algumas instituições a mais do que em 1960, mas ainda eram poucas: o Filmmuseum, por exemplo, o Arsenal de Berlim, o Museu do Cinema de Munique – e isso era tudo. Mas também havia a televisão alemã, que oferecia uma variedade incrível de programas com um trabalho curatorial importante, especialmente nos terceiros canais, e nos regionais. Era daí que vinha a maioria das oportunidades de comparação e informação. Dez anos depois, surgiu outro “canal”. Pode ser um bom exemplo para essa geração, já que eu tinha 16 anos em 1981, quando comecei a aprender a história do cinema, não apenas em lugares como este, o Filmmuseum, e não só pelos programas de televisão, mas também – e em maior grau – pelas fitas de vídeo, pelas gravações que eu mesmo fazia, pelas fitas trocadas e copiadas com amigos, pelas versões raras encontradas e alugadas, etc. Isso significa que essas “experiências do tipo Langlois” não podem ser diretamente transpostas para as experiências atuais com a história do cinema. O público, os programadores, os críticos, os professores que estão em atividade hoje vêm de contextos completamente diferentes em relação à sua prática cinéfila. A ideia de um “agrupamento” consecutivo entre Mizoguchi, Ozu e Kurosawa produz um sentido, sim – mas funciona de maneira muito diferente hoje em dia, já que todo mundo traz sua própria ideia desses cineastas, um “conhecimento” adquirido durante sua socialização cinéfila, através das múltiplas imagens em movimento vistas em fontes diferentes em relação às da projeção cinematográfica em sala.
Por isso, de certa maneira, agora as pessoas são muito conscientes da história do cinema, da natureza do trabalho de alguns cineastas e das relações que existem entre um movimento estilístico e outro. Ignorar essa realidade não faz sentido. Mas, como bem disse Olaf, não precisamos fugir do que fez Langlois. Não esqueçamos o que ele fez, mas também não esperemos que suas consequências sejam iguais em 2012.
OM: A televisão não apenas transmitia filmes. Na verdade, estabelecia relações entre a história do cinema. Para mencionar um exemplo: não apenas transmitiam uma retrospectiva de Jack Arnold, também faziam filmes “com” e “sobre” Arnold para acompanhar a exibição de cada filme.
A.H.: Não estou muito seguro de qual era a situação, mas acho que o modelo de Cinéastes de notre temps teve um papel muito importante. Gosto muito dessa série, mas ela é menos analítica. Convidavam cineastas contemporâneos para retratar os antigos diretores, e sempre se baseavam em entrevistas com esses artistas. O que Olaf acabou de descrever sobre a Alemanha seguia uma direção diferente. Talvez fosse algo muito “germânico”, mas desde os anos 1960 até o início dos anos 90, a televisão pública era compreendida como uma instituição de educação massiva. Foi uma tarefa auto assumida. Hoje, essa abordagem está quase esquecida, pois, para competir com a televisão privada (que surgiu no final dos anos 1980), mudaram por completo o conceito de “televisão pública”. Antes, assumia-se a televisão como a escola de uma nação e, de certo modo, uma disciplina como o cinema e sua história penetrou nessa “escola” porque havia pouquíssimas instituições culturais ao nosso redor. Refiro-me a instituições como as cinematecas, e à tradição das projeções de repertório do cinema clássico em salas comerciais, algo que na Alemanha nunca se difundiu tanto quanto na França. Assim, a Alemanha, ainda que com atraso, se colocou nesse nível graças, em parte, à televisão. Mesmo hoje ainda há muitas diferenças. O Filmmuseum de Berlim, por exemplo, é um lugar que foca sua atividade em exposições de objetos e artefatos, publicações de livros etc., mas não possui realmente uma programação de filmes, exceto por uma retrospectiva por ano durante a Berlinale. Há outra instituição em Berlim chamada Arsenal, Institut für Film und Videokunst, que assume parte do trabalho que se esperaria de uma cinemateca. Há também o Filmmuseum de Munique. Mas não existem muitas instituições que se possam comparar, no geral, a uma cinemateca francesa.
O.M.: Cinéastes de notre temps e Cinéma, de notre temps ganharam reputação graças à relação com a Nouvelle Vague e com a Cahiers du Cinéma. Nosso modelo seria mais o de Cinéma, Cinémas (1982–1990), o projeto que foi realizado por Claude Ventura. Algo mais relacionado aos nomes famosos. Por outro lado, claro, acontece que nós, alemães, temos uma relação extremamente neurótica com o cinema. Por razões históricas bastante evidentes e, sobretudo em comparação com os franceses, não somos centralizados. Se você pensar na Alemanha, temos cinco grandes cidades; na França, há apenas Paris. É assim que as coisas são. Do ponto de vista político e cultural, é tudo muito mais espinhoso. A Alemanha funciona por meio de um processo descentralizado, somos de fato uma Federação. E cada estado, para o bem ou para o mal, tem que cuidar de si mesmo em muitos aspectos. Assim, a televisão é uma mistura estranha do federal e do nacional. Enquanto todo o aparato educacional era gerido em nível federal, esses programas ficavam perambulando de um lado para outro. Por exemplo, para mim, uma coisa muito importante foi o programa de Giuseppe De Santis que nasceu na Baviera, e que depois começou a se espalhar pelas diferentes emissoras regionais, até chegar à Renânia do Norte-Vestfália, meu estado. Era assim que funcionava. Ao contrário das demais instituições, por várias razões, a televisão tinha a capacidade de atuar como elemento intermediário. Quando eu era jovem, meu “professor de cinema”, por assim dizer, ia com mais frequência a Luxemburgo ou Bruxelas ver filmes do que a qualquer outro lugar, porque, de fato, esses lugares ficam mais próximos de Colônia. Mesmo Frankfurt – nem se fala Hamburgo, ou especialmente Berlim, que naqueles dias era um verdadeiro caldeirão.
Há outra questão com muitas ramificações para comentarmos (já que estamos conversando no escritório da direção do Filmmuseum). Trata-se de algo relacionado à história da instituição no final dos anos 1960 e aos movimentos radicais que levaram a segunda geração de cineastas de vanguarda austríacos a ocupá-la em janeiro de 1969. Ao que parece, o co-diretor do Filmmuseum, Peter Kubelka, recusou-se a programar seus filmes em detrimento dos programas de cinema de vanguarda norte-americano, como mencionado no livro de Peter Tscherkassky Film Unframed. A History of Austrian Avant-Garde Cinema (TSCHERKASSKY, 2012: 24-25). Quase trinta anos depois, Kubelka incluiu esses filmes no programa “Was ist Film”, sua narrativa pessoal sobre toda a história do cinema. E também, por outro lado, esses cineastas vanguardistas reconciliados do chamado ‘Cinema Expandido’ brilham orgulhosamente ao serem comparados, por exemplo, a Dreyer, Siodmak ou Buñuel. Mas há também a ausência notável de qualquer filme de Hollywood nesse programa. Gostaríamos que falasse sobre isso. Perguntamos-nos se você compreende a radicalidade do gesto de Kubelka. Vimos seu programa para a documenta Kassel, em 2007, e nele o cinema de Hollywood dialoga com filmes experimentais.
A.H.: O ciclo “Was ist Film” ainda se parece com o de 16 anos atrás, na época em que foi iniciado. Foi uma escolha consciente da minha parte, continuar a apresentá-lo tal como está, ou seja, como uma declaração histórica específica. E, de qualquer forma, Kubelka não gostaria de mudá-lo. O ciclo aconteceu em 1995/1996, durante o centenário do cinema, ocasião em que o Filmmuseum recebeu algum financiamento público extraordinário, o que nos permitiu adquirir novas cópias e conservar as que já faziam parte da coleção. A seleção de Kubelka começou no final de 1996. Desde então, só houve dois acréscimos pequenos. O primeiro foi um programa que ele incluiu em 2005, porque começou a se interessar por Fassbinder como um “não-treinado” e não-deformado cineasta narrativo. Eu disse a Kubelka quais filmes de Fassbinder tínhamos na coleção, e ele escolheu Katzelmacher (1969). Programou-o com Outer Space (1999), porque também queria incluir o trabalho de Peter Tscherkassky no ciclo, como um dos pilares importantes da tradição vanguardista austríaca. Desconheço as razões específicas que o levaram a combinar esses dois filmes. Também fez um segundo acréscimo em 2009, com a ideia de destacar o filme de 8mm, o cinema de bitola pequena, como forma de expressão artística. Assim, Kubelka optou pela obra de um de seus antigos alunos de Frankfurt, Günter Zehetner, cujo trabalho original em 8mm ele achava admirável. Zehetner também trabalha com vídeo e 16mm, mas seu foco principal é o filme em super-8. Kubelka o escolheu para homenagear, ao mesmo tempo, um jovem cineasta, um autor específico, e as potencialidades específicas do cinema em 8mm. Tirando esses dois acréscimos, quis preservar o ciclo em seu estado original, e aceitei esse conceito: afinal, trata-se de uma tomada de posição histórica e de uma afirmação pessoal baseada em toda uma vida de reflexão sobre filmes. São duas coisas ao mesmo tempo: eu o recomendaria sempre a qualquer estudante de cinema como uma forma muito proveitosa de refletir sobre as capacidades inerentes ao cinema, ao longo de 63 programas. Mas o programa já é matéria para a escrita histórica, e me refiro à história cinematográfica do cânone e da programação, e às diferentes tentativas modernas de definir o cinema por meio de uma seleção de filmes. Por isso também editamos um livro sobre o programa que incluía uma longa conversa com Peter Kubelka. É claramente uma posição poético-curatorial ligada a este homem, e eu não queria que ela assumisse o papel de um ‘dogma’, como proposto por esta instituição. De qualquer modo, não existe uma “verdade fílmica” única, então tentei colocar o programa em relação com outras séries. Utopie Film é mais simples, mais flexível e não tão “cristalina” como Was ist Film. Não quis desenvolver uma “contra-lista” de 200 obras talhadas em pedra, estruturalmente análogas ao programa de Kubelka; por isso Utopie Film é mais dinâmica e está organizada em capítulos, que nos trazem mensalmente uma nova constelação de filmes. As duas séries são exibidas todas as terças-feiras, então o público dispõe de duas “exibições” em andamento que olham para a história do cinema em geral, e que funcionam de maneiras diferentes. Entendo por que Kubelka queria uma regularidade estrita no modelo cíclico, e por que hoje isso é um gesto de resistência ainda maior, que nos diz que deveríamos continuar o ciclo em doses semanais. Aqueles que acompanham o ciclo como uma prática contínua recebem realmente um antídoto poderoso contra a ideia bastante consumista de “história do cinema em fragmentos”, tão comum hoje em dia, e também um antídoto muito rico contra a sabedoria convencional relativa ao “cânone do cinema”. É uma das razões pelas quais necessitamos das cinematecas.
Tudo isso me leva ao programa que preparei para a documenta em 2007. Claro que é algo muito diferente do ato de estruturar um programa museológico de longo prazo, mas há semelhanças. Ambos os modelos têm a ver com a criação de uma espécie de “teia”, com os estalos que podem surgir quando duas linhas ou energias se encontram nesse tecido. Em seu nível mais elementar, essa ideia está presente não só no paralelismo entre Was ist Film e Utopie Film, mas também no modo como organizo os “títulos” de um programa mensal, ou os “artistas estrela” que definem uma grade, como naquele mês em que tivemos retrospectivas de Val Lewton, Andrei Tarkovski e Apichatpong Weerasethakul, que se conectaram tanto entre elas, que acrescentei o subtítulo Histórias de Fantasmas como uma curva que abarcava os três. O programa da documenta foi o sonho, a esperança ou a tentativa de realizar muitas dessas ideias, mas ao longo de um único verão, no arco amplo de 100 dias e 50 programas, muitos dos quais já eram em si pequenos arcos que produziam ecos em vários níveis. Como no caso do programa Was ist Film, às vezes brinquei com a ideia louca de que, para captar o sentido do programa, seria necessário ver todas as 50 sessões. Seria preciso viver em Kassel ou nas redondezas, e ir ao cinema Gloria a cada duas noites durante mais de três meses. Pelo que sei, várias pessoas de Kassel foram a várias sessões, mas temo que o número daqueles que viram tudo oscilou entre zero e três. A maioria do público visita a documenta durante dois ou três dias, claro, então é preciso pensar em quem só poderá ver de um a três programas. Por isso tentei conceber cada programa como um mensageiro potencial do todo. Não foi possível, é claro…
Diferentemente de Peter Kubelka, acredito que a “circunstância mercantil” do cinema, seu lado industrial, é tão válida quanto sua “forma de arte elevada” na hora de definir ou descrever o meio. Mas é importante perceber que Kubelka não se interessava exclusivamente pela “forma de arte elevada”; ele frequentemente fala – e exibe – materiais como filmes publicitários, filmes caseiros, cinejornais etc. Ele fez algo muito importante, por exemplo, no congresso da F.I.A.F. de 1984, em Viena. A F.I.A.F. é a Federação Internacional de Arquivos Fílmicos, e todos os seus membros se reúnem anualmente em uma cidade diferente para um congresso que inclui um simpósio de dois dias sobre um tema específico. Em 1984, na condição de arquivo anfitrião, Kubelka e o Filmmuseum decidiram focar no tema “O filme não industrial”. Foi a primeira vez que temas como o cinema amador, os filmes científicos ou o material usado em esportes como ferramenta de treinamento se tornaram assunto de um congresso da F.I.A.F.; o cinema de vanguarda, os diários filmados e o cinema pessoal também fizeram parte dessa ideia de “cinema não industrial”. Então ali estavam todas aquelas pessoas do campo museológico e dos arquivos fílmicos do mundo inteiro, com suas noções hegemônicas do que constitui “nossa herança fílmica”, ouvindo médicos, treinadores de atletas ou Jonas Mekas falarem sobre os usos incrivelmente amplos do cinema e suas múltiplas funções sociais – sobre todos os temas, exceto a única função do cinema normalmente identificada pelos arquivistas e programadores: a comercial, e os longas-metragens de entretenimento.
Mas quando Kubelka foi convidado a programar ou co-programar seleções amplas, a força principal de sua argumentação sempre apontava para o cinema pessoal e de vanguarda; é isso que quero dizer com a noção de cinema como “arte elevada”, pela qual ele, sobretudo, opta para representar a “essência” do cinema. Isso é uma característica óbvia de seus três grandes programas – Essential Cinema para os arquivos da Anthology Film Archives de Nova York, entre 1970 e 1975, onde fazia parte de um pequeno grupo de programadores; a encomenda, em meados dos anos 1970, de criar a coleção fílmica do Centro Pompidou em sua inauguração; e o ciclo Was ist Film em Viena, em 1995/1996. Na entrevista para nosso livro sobre Was ist Film, ele diz que havia certos elementos que teria gostado de incluir, mas que se tornaram impossíveis por questões de direitos. Menciona, por exemplo, O encouraçado Potemkin (Bronenosets Potyomkin, Sergei M. Eisenstein, 1925) e talvez alguma comédia americana do período silencioso. Em geral, no entanto, sempre optou por uma linha de escolha clara de distanciamento do chamado “cinema comercial”.
Dizer que o cinema deve ser visto como uma “grande arte” não é necessariamente algo bom ou ruim. Mas acredito que reduzi-lo a essa função limita nossa compreensão do meio, da mesma forma que limitá-lo – como faz 99% da população – à sua função de entretenimento industrial. De certo modo, e em pequena escala, era isso que eu esperava mostrar com o programa para a documenta: que o lugar especial do cinema na história cultural, sua riqueza e seu frescor estranho têm muito a ver com seus múltiplos campos de força. E o entendimento hegemônico – o cinema como entretenimento de uma noite – é apenas isso: um dos muitos possíveis. E não se trata, também, de definir o cinema apenas por sua capacidade de servir como testemunha histórica e direcioná-lo para seu “compromisso com o real”. Essa ideia de cinema domina a tradição cinéfila francesa desde Bazin até Daney e além. Em História(s) do cinema, é o modo de reflexão mais evidente que percebemos – e isso é importante – porque, na esfera social amplamente entendida, há uma percepção muito limitada dos espaços interiores que existem entre História e cinema. Mas, em razão dessa forte tradição “ético-realista” na crítica e na prática cinematográfica francesas, parece também que a cultura cinematográfica desse país tem um problema geral com a tradição oposta: aquele cinema que começa olhando para sua própria realidade material e que é cético diante de qualquer “realismo”, pertencendo mais à genealogia da arte moderna. Falo de uma tradição que normalmente é chamada de “experimental” ou de “vanguarda”. Claro que há exceções, se pensarmos em Nicole Brenez ou Raymond Bellour. Mas se lermos Christian Metz, por exemplo, o cinema de vanguarda parece-lhe um anátema. E Godard também nunca demonstrou muito interesse por esse campo tão rico. Os cânones da cinefilia francesa podem parecer opressivos se contemplamos o que eles excluem.
Para mim, há um horizonte – talvez utópico – em que todos esses elementos realmente se relacionam entre si e não se dividem em discursos separados e “modos de vida” cinéfilos. Visualizo um espectador que vem assistir ao ciclo Was ist Film toda terça-feira e também outras projeções de cinema de vanguarda, e que também se interessa por uma sessão dedicada a William Wellman, por exemplo; e também por uma apresentação de filmes amadores no contexto do urbanismo – e assim sucessivamente. Esse horizonte tão repleto é basicamente minha forma de relação quando penso em um programa amplo. Alguns aspectos dessa abordagem foram representados, espero, na seleção da documenta. As duas primeiras noites incluíam O sol brilha na imensidão (John Ford, 1953), Jazz Dance (Roger Tilton, 1954), Lights (Marie Menken, 1966) e Viagem à Itália (Roberto Rossellini, 1953). Havia, por um lado, a ideia de começar exatamente no período em que a documenta começou entre início e meio dos anos 1950 – o que também corresponde ao início da segunda metade do cinema e, em termos de tendências, à “imagem-tempo” teorizada por Deleuze. E, por outro lado, de representar o cinema – desde o começo da mostra – por meio da confrontação de quatro linhas que me parecem igualmente válidas. Outro programa, para citar um exemplo, uniu eXistenZ (David Cronenberg, 1999) com The Act of Seeing with One’s Own Eyes (Stan Brakhage, 1971). Acho que meu trabalho, até certo ponto, é exatamente isso – mas não pela causa de uma espécie de missão abstrata global, e sim porque é a minha própria experiência corporal em relação às capacidades do meio. É o resultado de assistir a filmes com bastante intensidade durante mais de trinta anos, de descobrir novas formas de cinema, de permanecer cego diante de algumas no início, e depois começar a enxergar algo – e assim por diante. É a experiência de se apaixonar pela expressão cinematográfica independentemente de se tratar de um “storytelling hollywoodiano”, de um diálogo “destrutivista” com o meio, como no caso de Ernst Schmidt Jr., rasgando a película do filme em 1965, ou sendo incrivelmente tocado por documentos anônimos de um século atrás, como uma filmagem phantom ride de um bonde atravessando a Ringstrasse em Viena por três minutos, em 1906. Ninguém conhece os indivíduos envolvidos naquilo, então o que me toca é o fato absoluto da filmagem, o gesto expressivo, o “ato de testemunhar”. Tem a ver com participar de ações de registro e reprodução que não estão pré-estruturadas como o dominante – e a vertente mercantil do meio da imagem em movimento normalmente está. Um jovem de hoje talvez veja esse impulso concretizado na Internet – atravessar a selva de imagens em movimento online e descobrir ecos e surpresas ao longo do caminho. Para mim, é o próprio cinema e sua história que fazem isso. Não nasci com a Internet; criei minha própria “Internet” enquanto via filmes.
Retomando a sua pergunta sobre aquele momento em 1968… Foi um momento de confrontação, no qual formas de disputa se desenvolveram constantemente. Talvez uma fraqueza da nossa cultura cinematográfica atual seja o fato de adotarmos um olhar de aceitação sobre tudo, e há pouquíssimas “batalhas” sendo disputadas nesse campo. Há milhares de festivais, grandes e pequenos, e tudo parece encontrar seu lugar para brilhar em algum canto. Trata-se mais de uma afirmação constante do que de questionar um modelo econômico e cultural básico. De todo modo, no texto sobre o expanded cinema dos anos 1960 do volume recente ao qual você se referia, Peter Tscherkassky reconstrói os principais desafios articulados pelos protagonistas desse movimento na Áustria. Por um lado, ele escreve sobre um aspecto local bastante lógico: a interessante, embora curta, confrontação entre um grupo de cineastas de vanguarda e o Filmmuseum, em 1969. Quando encenaram seu protesto em frente ao Filmmuseum, argumentaram que Peter Kubelka tratava a instituição como um “museu privado”, favorecendo os trabalhos de seus amigos do New American Cinema e os seus próprios. E que nunca exibia os outros filmes austríacos de vanguarda, como os de Kurt Kren, Ernst Schmidt Jr., Peter Weibel, Valie Export, Hans Scheugl, etc. Era um confronto relacionado à inclusão e exclusão; eles queriam promover uma “expansão” do programa do Filmmuseum para que seus próprios trabalhos também fossem representados. E, tendo começado no início dos anos 70, isso passou logo. O Filmmuseum adquiriu as obras daqueles cineastas e as exibiu também. Por outro lado, havia um desafio maior, claro – atacar o modelo hegemônico do cinema, o “aparato”, como depois foi chamado, a constelação relativamente estagnada de projeção-espectador-tela do cinema convencional, considerada “ideologicamente suspeita”. Clamar por um cinema expandido era uma forma de participar do movimento geral de ataque contra o consenso fordista do pós-guerra, tanto no campo político e econômico quanto no cultural. Essa energia “expansionista” era dirigida igualmente ao Estado imperialista, à fábrica como espaço de trabalho e ao cinema como espaço de distração.
O grupo de Export, Weibel, Scheugl etc. desempenhou um papel importante nesse movimento internacional, no que diz respeito ao cinema e às artes. De um ponto de vista político, o mecanismo tradicional do cinema era visto como parte de um aparato ideológico voltado à distração, para manter os cidadãos em um estado de obediência e passividade – o equivalente do tempo livre fordista à maneira como se organizavam a fábrica, o espaço de trabalho e o Estado social. Portanto, para aqueles “expansionistas”, o espaço do cinema como tal, a relação do espectador com o espetáculo e toda a noção de ilusão fílmica e de representação tornaram-se um território de contestação: “Expandamos ou exploremos essas relações, envolvamos o espectador, substituamos a ilusão projetada por uma atividade real, brinquemos com a maquinaria da projeção e introduzamos elementos a-fílmicos, deixemos correr um fio de tecido pelo projetor em vez de um rolo de filme”, etc.
É bastante irônico, no entanto, que esse tenha sido também o momento histórico em que o próprio sistema fordista começou a perceber que precisava mudar, “expandir-se” e tornar-se mais flexível para sobreviver. E foi o momento em que a televisão assumiu, a partir do cinema, o papel de principal aparato cultural e de lazer, apenas para mais tarde ser substituída pela cultura digital. Assim, de certo modo, a luta pelo “cinema expandido” logo perdeu seu maior adversário, e muitos de seus militantes – como Weibel e Export, por exemplo – migraram para um compromisso crítico com a televisão e com as novas economias do tempo livre. Os anos 1970 e 80 foram uma época em que o cinema “não expandido” rapidamente, e felizmente, em minha opinião, perdeu seu papel de “aparato maior de repressão”. Não importa se ainda temos hoje Hollywood e a indústria cultural global; o importante é que, pelo menos desde o ano 2000, o espaço e a experiência cinematográficos já não se adaptam tão facilmente nos modos dominantes de comportamento e controle social como faziam em meados do século passado. O subjetivismo pós-fordista e as mentalidades governamentais já não se refletem tanto na maquinaria do cinema quanto nos regimes flexibilizados das imagens em movimento eletrônicas ou digitais que definem nosso presente social e cultural. Para mim, o mundo da arte, dos museus corporativos e das bienais – com seu interesse relativamente recente mas intenso pelas imagens em movimento – tornou-se, até certo ponto, parte desse regime. É por isso que sempre acho divertido quando curadores do mundo da arte, para sinalizar sua “posição crítica” diante da sociedade dominante, dizem que as instalações de imagem em movimento nos museus realizam a utopia do “cinema expandido” no que diz respeito ao “espectador libertado” – como se o adversário político ainda fosse o “espectador passivo e enrijecido” do cinema tradicional, ou o modelo econômico fordista. Para mim, é justamente o oposto: o visitante “libertado” do museu, passeando de uma tela à outra, de uma imagem em movimento à outra, ou de uma instalação à seguinte, é a expressão perfeita do que vivenciamos dia após dia: nós, cidadãos “flexíveis”, “criativos”, “ativos” e “superindividualizados” de hoje – já não trabalhadores, mas co-trabalhadores, participantes das estratégias econômicas de nossas empresas – estamos perfeitamente representados e, claro, nos sentimos atraídos pelo sistema predominante, flexível e disperso das imagens em movimento. Nossos hábitos midiáticos, que fluem das imagens do iPhone para o iPad, e então para as telas públicas do computador, e talvez da televisão, de vez em quando (mas já não tanto), são a expressão perfeita da cumplicidade do nosso comportamento. Este é o “cinema expandido” dos nossos dias, e não tem nada a ver com seu homônimo de 1968, nem com o ímpeto crítico que entusiasmava aqueles artistas.
Já não nos obrigam mais a estarmos no escritório às 8 da manhã ou a sentarmos na linha de montagem. Já não somos o Charlot de Tempos modernos (Modern Times, Charles Chaplin, 1936). Trabalhamos onde quer que nos acomodem. E já não somos obrigados a sentar “passivamente” em uma sala escura para fazer parte do espetáculo. Não, o espetáculo se expandiu e agora vem até nós, aos shoppings, às nossas casas, ao local de trabalho, aonde quer que levemos nossas telas ou visores. Por isso, o cinema,“o cinema tradicional não-expandido”, tornou-se potencialmente uma ferramenta crítica em relação a esse regime. Interessa-me muito observar os modos como as pessoas assistem a imagens em movimento, e muitas vezes me deparo com esse tipo de “estresse” em shoppings, em museus ou na Internet, com pessoas que sentem que não podem ou não devem focar sua atenção em uma única imagem, porque sempre há outra e mais outra; sempre há algo mais, potencialmente mais interessante. “Isso me prende nos primeiros trinta segundos? Não muito. Aquela coisa vermelha que pisca ali parece bem intensa, vamos a ela…”. Tenho consciência, claro, de que essa é uma sensibilidade muito aceita, e não desejo impor uma moral a respeito dela em absoluto, mas não tem nada a ver com os filmes ou com o cinema.
A memória não participa disso…
A.H.: Exatamente; assim é difícil deixar uma marca. Quando falamos do filme como um testemunho, como algo que deixa vestígios, portanto, a memória de realmente ter visto algo, e depois ver outra coisa, como uma verdadeira confrontação, trata-se de um fator importante nesse processo. Se o fim é desenvolver uma “memória ativa”, não creio que a experiência de passear entre imagens em movimento numa exposição em um centro comercial resulte em algo particularmente útil.
Como sintetizou Daney, é o audiovisual em relação com (e provavelmente contra) o cinema.
A.H.: Sim. É interessante que Catherine David, na documenta de 1997, já tenha publicado todos aqueles textos de Daney, além de incluir Frieda Grafe e História(s) do cinema. Mas, nesse caso, o “audiovisual” de Daney ainda se referia à televisão. Ele morreu em 1992, então não fala sobre a internet ou o desenvolvimento do mundo da arte. Hoje, quinze anos depois, um curador da Documenta que queira trabalhar com os textos de Daney também precisará abordar a forma como o “audiovisual” entrou no mundo da arte.
No volume que vocês editaram, Film Curatorship, menciona-se um tipo de programação baseado em ciclos temáticos e, além disso, também encontramos modelos de ciclos mais históricos em Paris ou, por exemplo, na Cinemateca de Lisboa, com a “História Permanente do Cinema”. Qual é sua posição em relação a esses dois métodos de programação, que parecem alternativos (talvez complementares) à prática curatorial de cinema comparado?
A.H.: As instituições que você menciona, de fato, trabalham esses dois modelos. Nenhuma cinemateca apresenta suas projeções hoje em dia apenas sob o título “História Permanente do Cinema”. Talvez em Lisboa e Paris essa parte ocupe um segmento mais amplo da programação total do que na maioria das outras cinematecas que conheço. Mas cada cinemateca destaca uma série de sessões temáticas ou monográficas a cada mês ou a cada quinze dias – como seus principais destaques da programação. No caso do Filmmuseum, essa noção de “coleção permanente” se traduz nos programas das terças-feiras, Was ist Film e Utopie Film. Somam um total de 10% a 15% da programação completa. Por outro lado, se substituímos o caráter temporal de uma cinemateca pelo caráter espacial de um museu tradicional, encontramos certas semelhanças: a maioria dos museus dispõe de uma coleção permanente em exibição, cercada por diferentes retrospectivas que mudam regularmente. Um museu de cinema, como um museu de arte, deveria encontrar espaço para representar sua própria coleção e fazer transparecer seus focos e pontos fortes. É muito bonito conseguir fazer com que as coleções dialoguem, mesmo que se trate de uma coleção comparativamente pequena, como é o nosso caso. Essa é uma parte essencial da curadoria fílmica. Também complementar a coleção com empréstimos e formas de situar certos temas ou obras sob uma luz diferente a cada vez que são projetados. Jack Smith, por exemplo, tem sido uma das obsessões do Filmmuseum por décadas, mas, neste caso, para a sessão de novembro de 2012, criamos um contexto amplamente expandido com empréstimos, trabalhos inacabados que foram preservados, além do ponto de vista do curador Jim Hoberman, que descreveu o “Cosmos Smith”, que vai além de seus próprios filmes.
Na verdade, me parece que – transcendendo o ponto de vista nacionalista – há histórias do cinema específicas ligadas a lugares específicos. Parte do nosso trabalho de pensamento sobre o cinema consiste em estarmos cientes dessas diferenças específicas. Por isso comparamos as relações franco-alemãs por meio da cinefilia e até mesmo da televisão. Essas diferenças têm muito a ver com as instituições individuais e suas coleções, bem como as culturas locais da crítica e as ações de certos indivíduos em momentos pontuais. Por exemplo, percebo um “ponto de vista vienense” sobre o cinema que se desenvolveu ao longo dessas décadas, que inclui o trabalho dos cineastas, é claro, mas também da crítica e da erudição, de festivais como a Viennale, de instituições como a Sixpack Film ou o Filmmuseum, etc. Há uma característica definidora da cultura fílmica vienense que tem a ver com o alto interesse pelas genealogias do cinema de vanguarda. Mas isso geralmente se relaciona com outros pontos de vista internacionais; e, como a Áustria é um país pequeno e a cultura fílmica vienense, um “jogador” ainda menor na cena internacional, há pouco risco de chauvinismo. Parte da minha crítica à cinefilia francesa vai nesse sentido: o objeto das genealogias locais, dos interesses críticos específicos, aplica-se tanto a Paris – ou ao restante da França – quanto a Viena, Berlim ou Buenos Aires, mas o isolamento é de fato muito maior em Paris, porque ali nossos colegas raramente refletem sobre essa construção, o que limita sua ideia de cinema. Desde que teve tanto “sucesso” – em termos de alcance global e, ao menos por um tempo –, a cinefilia francesa foi perdendo – talvez nunca tenha tido – a capacidade de colocar em perspectiva as próprias verdades que pareciam evidentes. Países menores ou culturas com menor “força global” o fazem por necessidade, têm menos “autoconfiança”. Suas posições, sua tradição crítica e suas culturas fílmicas foram marginalizadas ao longo do processo. Também é muito importante o volume de produção cinematográfica do país em questão, e por essa razão decisiva França e EUA foram tão dominantes por tanto tempo.
Na introdução de Cinema, A Critical Dictionary, Richard Roud afirma mais ou menos: “Não nos enganemos, o discurso cinéfilo importante que se produz hoje em dia germina em Paris, Londres ou Nova York.” Nesse caso, a suposição básica é verbalizada de forma bastante direta. Não costuma ser dito de forma tão clara, mas em toda parte percebemos isso nas entrelinhas. Não quero dizer que o grande papel desempenhado por Paris ou Nova York no contexto da “imagem global” careça de fundamento, mas inevitavelmente leva à perspectiva isolada que mencionei. E creio que, neste momento, deveríamos ser capazes de superá-la. Por exemplo, com a internacionalização da cena crítica e das publicações online, ninguém ousaria escrever algo como o que Richard Roud escreveu no fim dos anos 1970, pois sabemos que isso não é verdade. No entanto, uma crítica de cinema tão importante quanto Frieda Grafe – uma das maiores da história do meio – ainda é uma figura mais ou menos desconhecida no cenário internacional, enquanto Serge Daney não. E tenho certeza de que há casos semelhantes no universo de língua espanhola sobre os quais nunca ouvi falar. Portanto, não vivemos em uma situação ideal, mas ela me parece muito melhor do que há vinte ou trinta anos. Nesse ínterim, os “centros mundiais padrão” da cinefilia e seus discursos simplesmente perderam parte de seu interesse, de sua utilidade e de sua aplicação. Podem até se tornar curiosamente provincianos.
Você não tem a sensação de que esses “centros mundiais padrão”, como você diz, conquistaram os centros locais utilizando uma forte ideologia que persiste por gerações? O caso mais óbvio é o de Paris, com a Cahiers du cinéma e sua noção da política dos autores. Edgardo Cozarinsky fez um documentário sobre a revista no qual Jean-André Fieschi sentenciou: “Cahiers venceu a batalha”. O antigo diretor do BAFICI, Quintín, gosta de lembrar isso.
A.H.: Se estamos falando do paradigma crítico hegemônico durante a segunda metade do século XX, eu concordo. O prisma dominante através do qual a cultura fílmica enxergou o cinema é bastante “autorista”, embora outras abordagens também tenham sido reforçadas nos currículos. Mas nenhuma delas se tornou tão influente em escala massiva quanto o autorismo. Hoje em dia, anunciam na televisão: “Seven Women, de John Ford”. Isso não era feito nos anos 1960 ou 70. Mas isso não tem nada a ver com a Cahiers du Cinéma de hoje; vem de um momento histórico em que não havia apenas a Cahiers, mas uma confluência mais ampla de tradições críticas, que incluía muitas outras correntes – às vezes até mais antigas – que levaram a essa visão canônica. Enxergar tudo isso como uma “batalha” é, por outro lado, bastante infantil, como se disséssemos que a “arte moderna” venceu a batalha contra os pintores acadêmicos de 1870. A pergunta seria: e daí? Se estamos falando do “gosto da Cahiers” e de seu legado em relação a alguns cineastas específicos e ideologias cinematográficas, não sei se concordo com essa afirmação. Na verdade, esse gosto está bastante obsoleto.
Gostaríamos que falasse um pouco sobre Jeune, Dure et Pure!, a retrospectiva extremamente pessoal sobre a história do cinema experimental e de vanguarda francês concebida por sua colega Nicole Brenez. Ela vive e dá aulas em Paris, mas, na verdade, parece ser um exemplo de alguém não centralizado. Quais seriam os contrastes entre os programas de vocês em relação ao cinema experimental e de vanguarda?
A.H.: Observando o trabalho de Nicole, e também o de Raymond Bellour, por exemplo, notam-se interesses que se afastam da norma – ao menos na França. Ela promove diferentes tipos de “ação cinematográfica”. Interessa-se muito pela militância cinéfila, mas também se compromete com alguns cineastas narrativos que costumam ser marginalizados, como Abel Ferrara. Seu trabalho não é monolítico. É difícil estabelecer comparações entre nossos trabalhos, não apenas porque somos amigos. Atuamos em constelações muito diferentes. Primeiro, porque ela é professora universitária e, sobretudo, uma escritora muito ativa; segundo, porque os programas que ela organiza acontecem em instituições e cidades diversas. Já eu estou muito mais “atado” a esta instituição, o Filmmuseum, e bem envolvido em cada um de seus detalhes, inclusive os administrativos. Acho que ela estrutura suas atividades com base em um “contraponto” ideal, algo que não me sinto capaz de fazer em meu trabalho atual. Talvez os interesses de Nicole tenham mudado um pouco ao longo do tempo desde que a conheci, de meados dos anos 1990 até hoje. Mas Godard, por exemplo, permaneceu como sua pedra de toque fundamental. De todo modo, o que ela vem especializando-se cada vez mais – e por isso a admiro – é nessa prática cinematográfica que confronta o padrão cinéfilo: o cinema experimental militante, práticas underground que mal encontram espaço na cultura cinematográfica dominante. E ela faz isso com muito mais intensidade do que eu. Talvez seja uma fraqueza da minha parte, mas quando me encontro numa posição de “responsabilidade pública” ou contábil — como diretor do Filmmuseum, ou quando organizei a Viennale entre 1992 e 1997 –, tento primeiro entender quais são as obrigações básicas inerentes às instituições. Elas existem porque a sociedade civil, os políticos da cultura e os contribuintes chegaram à conclusão – com um pouco de boa vontade – de que financiar instituições como esta serve a um bem comum. Por isso, sempre são necessários os ativistas que levem essas instituições para a linha de frente e assim provem (ou não) que a instituição que fundaram serve a um propósito coletivo; que não é um mero “museu privado”, mas um lugar no qual se encontram certos objetivos culturais e educativos legítimos para diversos grupos na sociedade. Se essas instituições sobrevivem à fase de fundação, tornam-se algo mais do que uma atividade pessoal ou de grupo, pois de fato já envolveram a sociedade em muitos níveis. Assim nasce uma “missão” geral, porque, ao começar seu trabalho num lugar assim, acho importante analisar em que consistia essa missão, o entendimento geral do papel da instituição na sociedade, o que e como fizeram seus predecessores, que aspectos priorizaram e quais foram tangenciados. A partir daí, podem ser implementadas mudanças – sempre com base em um modelo existente, e não caindo do céu.
No campo da preservação fílmica e do trabalho de arquivo, por exemplo, muitas atividades deixaram de acontecer aqui durante os anos 1990 por razões orçamentárias. Por isso, uma das principais tarefas com as quais lidamos nos últimos anos foi justamente fortalecer essa área. Ampliar a equipe do arquivo, trabalhar mais com as coleções, concluir o trabalho com a grande coleção Vertov – que é um verdadeiro tesouro do acervo do Filmmuseum – e iniciar projetos ligados à pesquisa. Além disso, retomamos as publicações de livros e começamos a editar DVDs. Em termos de “conteúdo” e de aproximação, tudo isso se baseou, com muita solidez, no que a instituição já havia realizado no passado, no que meus predecessores haviam conquistado. Outra parte intrínseca das responsabilidades de uma instituição semelhante consiste em oferecer ao público deste país – via mostras, retrospectivas, etc. – um panorama histórico substancial do que o cinema pôde e pode realizar. E é preciso desenvolver uma relação com aquilo que se supõe “importante” na história do cinema – mas também com aquilo que não é – para os espectadores e estudantes de hoje. Costumo pensar nas gerações que frequentam o Filmmuseum: toda pessoa que empreendesse um estudo “sério” do meio deveria ter a oportunidade – num período de 10 a 15 anos – de experimentar todos os aspectos relevantes do cinema, incluindo não apenas os grandes artistas, mas também todas as formas de expressão, todos os gêneros, etc. Além disso, esse é o período médio no qual acredito que um programador ou diretor de uma instituição deveria assumir responsabilidade por ela. Ao longo de um período assim, e por meio de um “mapa”, pode-se tentar estabelecer uma série de noções a serviço daqueles que desejam aprender o máximo possível. Mesmo que levássemos em conta apenas esse fator, já ficaria claro por que minha perspectiva precisa ser diferente da de Nicole Brenez, por exemplo.
Talvez os filmes de Santiago Álvarez possam exemplificar o que estou tentando explicar: estou convencido de que Nicole trabalha com seus filmes dentro de seus projetos sobre cinema revolucionário ou militante, mas talvez ela não pense em uma possível relação com Robert Mitchum nesse contexto. Por outro lado, por que deveria? No caso do Filmmuseum, optamos por colocar os filmes de Santiago Álvarez ao lado dos de Robert Mitchum na abertura do nosso programa de dezembro de 2011. Como expliquei antes, esse tipo de “tensão” me parece muito apropriado ao contexto de um museu de cinema, que precisa adotar uma perspectiva mais abrangente. Ainda assim, devo esclarecer que muito raramente concebemos programas com base na obra de um ator. No entanto, há algum tempo venho refletindo sobre a ideia do ator como autor, de modo que Mitchum se encaixava bem nesse propósito: em muitos aspectos, sua carreira e sua abordagem profunda do cinema apresentam claros sinais de “autoria”, alcançados através da interpretação. Portanto, o fato de que Robert Mitchum e Santiago Álvarez pertenceram à mesma geração e, o que é ainda mais importante, que ambos passaram seus anos de formação viajando pelos Estados Unidos durante a Depressão, trabalhando em todo tipo de empregos esquisitos e terminando um deles como membro do Partido Comunista de Cuba e o outro filmando em Hollywood – quase ao mesmo tempo – me levou a vê-los como os dois lados de um mesmo LP. É o tipo de ideia que gosto de oferecer ao público.
Mas há algo mais: hoje em dia, os curadores-chefes das cinematecas já não são diretores ou administradores. Acho que sou uma das poucas exceções. Penso também em Haden Guest, diretor do Harvard Film Archive, que em minha opinião é um dos grandes curadores-diretores que já administraram um arquivo ou cinemateca. Gosto especialmente do fato de que ainda existam algumas poucas pessoas que mantêm ambas as responsabilidades, a administrativa e a de programação, pois isso está se tornando cada vez mais raro. À medida que essas grandes instituições cresceram nos anos 70, 80 e 90, também se tornaram cada vez mais burocráticas. Agora, o modelo de “management cultural” é o do diretor que “comanda”, trabalhando com um departamento de programação separado que costuma estar no mesmo nível dos setores de “marketing” ou “comunicação” – e às vezes em uma hierarquia ainda menor. Eu, por outro lado, me sinto mais próximo de um “modelo autoral” – no sentido tradicional, claro, já que venho desse ambiente, da escrita e da curadoria, mais do que de uma formação clássica em gestão.
Voltando ao comentário sobre Nicole Brenez, acho que também há diferenças na forma como cada um de nós “cresceu com o cinema”. No meu caso, simplesmente, amo muitos aspectos do cinema para conseguir focar minha atenção em apenas alguns poucos. Acredito que essas relações múltiplas com o cinema são necessárias para o meu próprio bem-estar. Tenho uma paixão enorme pela tradição dos cineastas “radicais”, seja no plano formal ou político – de Robert Kramer a Owen Land ou Santiago Alvarez –, mas a perda intelectual ou emocional que eu sofreria se deixasse de me relacionar com o “lado mercantilista sujo” do cinema, por exemplo, seria grande demais para mim.
Mas não existiria sem o outro cinema, ou pelo menos não seria assim.
A.H.: Exatamente! Ninguém pode realmente existir sem o outro. Há filmes “loucos” e radicais que foram realizados porque um grupo de imigrantes, de empreendedores analfabetos, decidiu ir para o oeste, para Hollywood, em 1910. Por causa da estupidez, da ganância e de coisas provavelmente nada humanas, o “cinema” passou a existir como uma força global; e até mesmo a religião, a propaganda e o Estado ditatorial desempenharam papéis centrais nisso tudo – por causa de todas essas ‘impurezas’… Então, acho que preciso complementar o título de Nicole com outro: Jeune, impure et dure! Acho que “maleável” também seria adequado, já que o cinema também é “velho”, muito velho! Ainda assim, entendo o que Nicole queria dizer com seu título em relação à tradição experimental francesa – na verdade, é um grande título. Tenho que dizer que sempre adorei conversar com ela sobre cinema, já que nós dois tendemos a ser muito “selvagens” ao estabelecer relações entre elementos que normalmente são mantidos separados. Quando a conheci, há uns 15 ou 20 anos, não pude acreditar que existia outra pessoa que, sem a menor ironia, pudesse dizer a seguinte sequência de palavras numa única frase: “Brakhage-Mizoguchi-amateurs-terroristas-Epstein-de Palma”. Ela é tão impura quanto eu!
As relações que ela estabelece são, voltando outra vez ao texto de Godard, como uma espécie de montagem. Quando afirma que tenta legar uma contribuição “autoral” a esta instituição, portanto, está criando de certo modo um novo pensamento.
A.H.: Espero que sim, ainda que seja em um nível muito simples. Não sou tão teórico em relação ao cinema para ser capaz de conseguir desenvolver pensamentos muito elaborados. Há uma grande diferença entre um grande curador e um grande teórico do cinema. Também não diria – como alguns no mundo das belas artes acreditam – que curadores e artistas são mais ou menos a mesma coisa. Considero-os bastante diferentes, embora também não pense que um seja “melhor” que o outro. Suas respectivas atividades envolvem práticas e profissões distintas, com objetivos diferentes, mas com a interferência autoral suficiente para que faça sentido dizer – como fizemos no início desta conversa –: “De acordo, vamos ver como o Godard filósofo e cineasta fala conosco sobre a ideia de montagem, sobre comparação e programação, e vejamos como isso se relaciona com a atividade dos curadores”. Encontraremos algumas semelhanças, mas não seremos capazes de afirmar que seu trabalho seja o mesmo. Há um filme de Gustav Deutsch, Welt Spiegel Kino (2005), que mostro com bastante frequência em nossos cursos de “programação fílmica” para estudantes universitários, pois apresenta uma ideia muito interessante sobre curadoria – assim como História(s) do cinema. E, ao mesmo tempo, o filme de Deutsch é completamente diferente. Se eu quisesse falar sobre Lisboa em 1929, ou sobre Viena em 1910, como faz Deutsch em Welt Spiegel Kino, provavelmente escolheria alguns dos mesmos filmes que ele selecionou em seus fragmentos, mas certamente não os trataria como ele fez. Ele pensa na música, na “composição”, em jogo com a temporalidade e com certos detalhes da imagem de maneira distinta do que eu proporia como curador. Gosto desse âmbito de diferença e de sobreposição. Se minhas palavras deram a impressão de estar contra o que disse Godard no texto que vocês me mostraram, na verdade, não estou em absoluto. Vejo uma preocupação básica compartilhada, mas é nos detalhes pormenorizados – o que e como os filmes deveriam ser comparados, como o cinema deveria se encarregar disso – que surgem as diferenças mais interessantes.
(Tradução: Leonardo Bomfim. Agradecimentos a Álvaro Arroba, Alexander Horwath e Gonzalo de Lucas).
A promessa do cinema
por Alexander Horwath
“Uma ideia só preserva a própria integridade e abertura enquanto não se consolida como crença amplamente legitimada.” (Siegfried Kracauer, Geschichte — Vor den letzten Dingen)

Quando passei a assistir filmes de ficção científica pela primeira vez, minha mãe me alertou: “Estes são filmes utópicos. Eles mostram outro mundo que não o nosso”. Mais tarde, aprendi que, no cinema e em outras esferas, há casos em que podemos distinguir um outro mundo se insinuando no meio do nosso, sem que se trate, necessariamente, de ficção científica. Foi o que aconteceu, por exemplo, ao me deparar com as obras de Rainer Werner Fassbinder e Luis Buñuel. Logo fui ler a autobiografia de Buñuel. “Durante toda a minha carreira”, ele escreve, “meu principal objetivo foi deixar claro, a quem quisesse ouvir, que este não é o melhor dos mundos possíveis”.
A percepção de que, em alguns filmes ou na obra de certos cineastas, algo de utópico pode resplandecer; de que nesses filmes ganham forma determinados anseios, ideias e práticas da vida em conjunto, que se posicionam de maneira contraditória ou até mesmo agressivamente contrária às práticas e concepções dominantes — este entendimento constitui apenas o primeiro passo rumo a uma utopia do cinema. Para o segundo passo, é necessário mais do que os filmes em si. É preciso — para usar uma palavra algo insossa, mas incontornável — uma cultura cinematográfica: espaços, territórios, controvérsias, linguagens por meio das quais seja possível trocar ideias sobre os diversos modos de relação entre os filmes; entre eles e outras artes e técnicas; entre eles e o mundo exterior; entre o cinema e a vida. E essa troca, por sua vez, permite perceber as relações entre o que é sancionado, majoritário, tido como necessário (no cinema como na vida) e aquilo que é exilado, reprimido, minoritário — todas aquelas “possibilidades que a história não considerou dignas de serem exploradas” (Kracauer).
A promessa contida em certos filmes se reporta a promessa feita pelo cinema como um todo. A utopia fílmica assume essas promessas sob formas sempre renovadas — constelações em constante transformação. Ela as converte em proposições e ofertas, por vezes até em manifestos e exigências. Contra o feitio dominador do presente — ou seja, daquilo que, em cada momento, vai se impondo como o “novo” dominante —, a utopia fílmica extrai seu material de futuros possíveis, inclusive daqueles provenientes do passado, os quais, quando muito, figuram na historiografia como futuros não realizados, interrompidos ou ainda não desabrochados. A utopia fílmica conta uma segunda vida do cinema, uma outra vida do cinema, mas sem deslegitimar a que de fato se sucedeu (pois cada uma só pode ser concebida como estando entrelaçada à outra de múltiplas maneiras). Ela acompanha, como uma sombra, a luz ofuscante que incide sobre o cinema hegemônico da atualidade. Mas, diferentemente de uma sombra, a utopia fílmica também manifesta forças interiores, com seus próprios vórtices singulares, que fazem essa luz vacilar loucamente ou mesmo assumir uma coloração distinta. E como ela, a exemplo de cada filme, está subordinada ao processo histórico, a utopia fílmica vai adquirindo outras facetas a depender do prisma temporal com que a observamos. Com a fotografia e o filme, novas formas de testemunho e expressão da realidade surgiram no século XIX, baseadas na ação de máquinas. Essas formas não apenas conquistaram “um lugar próprio entre os procedimentos artísticos”, como também “transformaram em seu objeto a totalidade das obras de arte tradicionais” e passaram a submeter “os efeitos dessas obras às mais profundas modificações”. O estudo de Walter Benjamin sobre essa questão — “A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica” (1935-39) —, apesar de sua fama e de sua onipresença em seminários universitários ao redor do mundo, ainda não foi exaurido enquanto fonte de citações. Ao contrário: não se pode dizer que os insights ali formulados tenham se tornado teoricamente obsoletos desde então. Mas, quando muito, suas implicações só são reconhecidas de forma distorcida — ou em inversões perversas — pelo mercado de arte e pelas instituições mais poderosas do turismo cultural e suas respectivas operações museológicas. Por isso, o texto de Benjamin não carrega vestígios de “esgotamento” ou de “engessamento”, conservando algo de utópico. Ele representa tanto o ponto culminante quanto o fecho provisório de um debate cinematográfico que atingiu proporções intensas no período entre as duas guerras mundiais, sobretudo na República de Weimar, nos primeiros anos da União Soviética e na França.

(foto de Eleazar Langman)
Os mais avançados entre os artistas, escritores e teóricos — da mídia e da sociedade — daquela época demonstraram como as consciências da câmera e da montagem, próprias da era inaugurada pelo cinema, produzem novas subjetividades e novas relações sensoriais — e, dessa forma, até novos tipos humanos ou mesmo mutações entre humanos e máquinas. Em 1921, Jean Epstein escreveu sobre uma popular marca de câmeras: “A Bell & Howell é um cérebro metálico, padronizado, fabricado e distribuído em alguns milhares de exemplares. Ela transforma o mundo exterior a si em arte. A Bell & Howell é uma artista. Uma artista que é uma artista e nada mais. Uma artista exemplar”. No ano seguinte, em 1922, Dziga Vertov viria a assumir ele próprio essa posição: “Sou um olho mecânico. Eu, máquina, vos mostro o mundo como apenas eu sou capaz de vê-lo”.
O novo homem que vinha sendo vislumbrado pelo comunismo soviético durante seus primeiros anos e o novo homem que então passara a enxergar também com os olhos do aparato cinematográfico pareciam, por um breve momento histórico, quase que literalmente, fundir-se um ao outro. Na Europa Ocidental, contudo, o foco recaía mais sobre a dispersão e a fragmentação promovidas pelo cinema e pela cultura de massa. Em 1926, Siegfried Kracauer interpretou essa forma de recepção de maneira positiva: “O acesso à verdade agora reside no profano”. O público de cinema e a cultura cinematográfica estariam — ao menos em potência — se livrando da doutrina artística burguesa, que continuava a gravitar em torno do sublime e de sua contemplação, da profundidade do sentido e das elevações espirituais da civilização.
O que também revela a dupla face do cinema. Do ponto de vista de sua função cultural-industrial e de seu caráter sociopsicológico, ele pode ser compreendido como um mecanismo de treinamento adaptativo frente às transformações vertiginosas que marcaram a experiência do ser no início do século XX — na vida urbana, no trabalho e também nos modos de fazer a guerra. Mas o papel revolucionário que lhe foi atribuído em textos da época vai além disso. São frequentemente apontadas, por exemplo, analogias ou outras relações de afinidade com a psicanálise freudiana (como em Benjamin, que fala do “inconsciente óptico” do cinema) e com a teoria da relatividade de Einstein (vide Jean Epstein, que se referia ao cinema como “uma máquina que revela a natureza variável do tempo” e “proclama a relatividade de tudo o que pode ser medido”). O aspecto revolucionário do cinema residiria assim em sua condição de ferramenta capaz de estabelecer associações — no sentido de uma nova visão de mundo, uma nova concepção de espaço e tempo (e, com base nisso, de política e história), em busca de novas formas de nexo dentro de uma existência caracterizada pela própria fragmentação.“Enquanto o cinema, por meio de seus close-ups, ou acentuando detalhes que até então nos eram ocultos em objetos cênicos que nos são familiares, explorando ambientes banais sob a engenhosa orientação da lente, aprofunda, por um lado, a compreensão das inevitabilidades que regem nossa existência, por outro, também revela um vasto campo de possibilidades até então insuspeitadas. Nossos bares e avenidas, nossos escritórios e quartos mobiliados, nossas estações de trem e fábricas pareciam ter-nos aprisionado irremediavelmente. Então veio o cinema e fez explodir esse mundo-cárcere com a dinamite dos décimos de segundo, assim permitindo-nos realizar, com serenidade, jornadas aventureiras por entre suas ruínas” (Walter Benjamin).

Nos anos 1920, nas obras seja do cinema popular ou da vanguarda cinematográfica, encontravam-se inúmeros outros exemplos desse tal pensamento utópico do cinema: um “autopensar” do filme, elaborado em termos propriamente cinematográficos, cuja relevância não é menor do que a de textos críticos e teóricos. Por exemplo, a questão central (e a maior armadilha) de toda vanguarda — “Como transpor a fronteira a arte e a vida?” — é enfrentada exemplarmente, no campo do cinema, de maneira simultânea por Dziga Vertov em O Homem com a Câmera (“Chelovek s kino-apparatom”, 1929) e por Buster Keaton em O Homem das Novidades (“The Cameraman”, 1928). Quatro anos antes, o mesmo embate já havia ocorrido entre os dois magníficos oponentes e seu desfecho fora idêntico: um empate. Em 1924, Vertov realizara pela primeira vez, no formato de longa-metragem (Cine-Olho ou “Kinoglaz”), o seu programa de cinema vibrante e “autopensante” — representativo de uma “vida capturada pela lógica cinematográfica”, que a surpreende e reconfigura. Por sua vez, em Sherlock Jr., Keaton abordou e trespassou, como num transe, as fronteiras entre a sala de projeção e a ação na tela, mas também — ao adentrar o filme-dentro-do-filme — as fronteiras impostas por cada corte, cada mudança de plano, cada alteração de cenário. No cinema, tais fronteiras se desfazem em passagens secretas que conectam mundos. “Há sempre buracos na parede por onde podemos escapar e pelos quais o improvável encontra caminho para entrar” (Kracauer).
Em 1964, diante de uma contemporaneidade cinematográfica que lhe passava a impressão de estar completamente tomado por superproduções e por delírios publicitários, Alexander Kluge escreveu: “Se a literatura fosse reduzida a programas editoriais, ninguém imaginaria o que de utópico haveria nas obras de Melville, Balzac, Flaubert ou Döblin; Joyce sequer teria lugar. A utopia fílmica, ou seja, a ideia de que possa existir algo além do insatisfatório imediatismo do presente, ainda não conseguiu florescer. A promessa contida na história do cinema permanece por descobrir.”
Quanto a isso, a Alemanha do início dos anos 1960 mostrava-se consideravelmente atrasada. Ao relegar os “filmes antigos” ora a respeitáveis objetos de cunho nostálgico e de formação cultural, ora a resquícios indignos da propaganda e da ignorância, a opinião pública do pós-guerra demonstrou pouca disposição para repensar o cinema de modo que este pudesse voltar a cumprir sua promessa — inclusive no que diz respeito ao mundo fora das salas de projeção. Uma rara exceção a esse cenário foi a revista Filmkritik, fundada em 1957 por Enno Patalas e Wilfried Berghahn, onde se lia: “É justamente a crítica que deveria suscitar aquilo que Brecht chamou de o ‘desejo da nossa época’: compreender as coisas a ponto de nelas poder intervir.”
Em outros lugares, esse processo já havia se iniciado. Novos movimentos cinematográficos, redes cinéfilas, revistas especializadas e cinematecas foram criadas em Paris, em Nova York, em Tóquio, na Itália, no Brasil e na Inglaterra — um clima no qual puderam caminhar lado a lado o entendimento da história do cinema como presença potencial e o modo autoconsciente com que novos filmes buscavam intervir no processo histórico. Com amplitude quase global, essa segunda onda de conscientização cinematográfica estende-se dos anos do pós-guerra até o final da década de 1970. Ela recolocou a ideia de uma intelectualidade cinematográfica em um lugar de destaque nos debates culturais e sociais, ainda que tenha ocorrido em paralelo ao deslocamento do cinema do centro para as margens da cultura de massa. Processo no qual — de maneira análoga ao que já havia se passado no princípio daquele século — transformações socioeconômicas e demais mudanças na experiência do mundo vivido viriam a se entrelaçar à própria consolidação de um novo meio de comunicação de massas. O cinema já não conta só com o impulso de suas forças utópicas; pois também se vale da resistência ao vento que sopra contra ele, economicamente falando, com intensidade crescente. “Entre a crise totalitária do fascismo e a crise social da televisão, subsistem as histórias do cinema” (Elisabeth Büttner).Elas subsistem porque novas ou persistentes associações continuam sendo forjadas. Essas associações adquirem seu ponto de maior expressão nos anos 1960 e se manifestam sob as mais diversas configurações. Por exemplo, a revitalização da aliança entre os mais brilhantes hipsters e vanguardistas das artes e da crítica cultural com o meio fílmico — de Susan Sontag e Frieda Grafe a Roland Barthes e Guy Debord, de Andy Warhol a Bob Dylan. Ou ainda uma associação como aquela entre Jean-Luc Godard, Brigitte Bardot e Fritz Lang (O Desprezo ou “Le Mépris”, 1963) — a associação, portanto, entre uma nova geração de críticos e cineastas (Godard), com diretores que àquela altura se afirmavam autoconfiantemente como autores; o lado “não-artístico” do cinema, ligado à cultura pop, comercial e de massas (Bardot); e aquele a quem historicamente essa referida geração devia seu próprio conceito de autor (Lang). Ou a aliança entre o cinema e o público das gerações do pós-guerra: os baby boomers fizeram do cinema, ao lado da música pop, algo genuinamente próprio, parte essencial de sua identidade — o que foi repercutir tanto no ativismo-político midiático que caracterizou os eventos de 1968 e seus desdobramentos quanto na institucionalização acadêmica (com a proliferação das escolas de cinema e a consolidação universitária da disciplina de estudos cinematográficos).
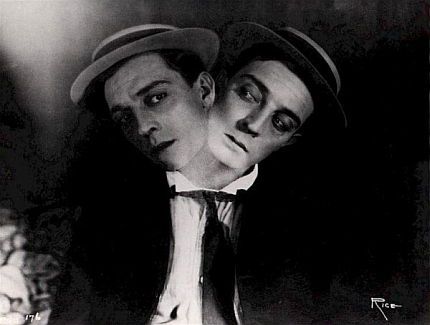
Apesar de todos os processos de sofisticação, repolitização e academização que o cinema foi atravessando, não se esgotou aquele grande sonho de transgressão — uma que haveria de ser mediada cinematograficamente — das fronteiras entre a arte e a vida. O sonho de que a vida na tela pudesse se abrir por completo à existência “lá fora”. Esse sonho continuou a ressoar no Expanded Cinema e também em Fassbinder: “Eventualmente, os filmes têm que deixar de ser filmes, deixar de ser histórias, se integrando à vida mesma, a ponto de nos suscitar a reflexão: no final das contas, o que isso tem a ver comigo e com minha própria vida?” Mas não se trata, no entanto, de assim alimentar o fantasma da autenticidade e da imediaticidade — ou seja, da “não-mediação”. Não há vida “verdadeira” para além do que é mediado. O filme que procura se entranhar na vida deve, como no caso de Sherlock Jr., necessariamente adentrar também a esfera do inautêntico; e tornar-se “vivo” justamente ali onde os sentimentos e a própria vida se mostram em toda a sua artificialidade e construção.
As fronteiras entre o que se convencionou chamar de baixa e alta cultura são, também elas, um tanto artificiais e, no mínimo, porosas. Também elas vêm sendo cada vez mais esgarçadas ou mesmo suplantadas pelas já referidas passagens secretas que o cinema faz abrir e as quais pode recorrer — muitas vezes já em associação com a televisão, sua nêmesis multifacetada. Em 1971, Werner Schroeter filma no Líbano sua adaptação da peça Salomé, de Oscar Wilde, para a emissora pública alemã ZDF. Na trilha-sonora, se misturam canções populares, valsas, trechos de ópera e sons de aviões. Duas de suas atrizes haviam acabado de sair do set de Relatório das colegiais (“Schulmädchenreport”, a popular série de filmes eróticos).
Por outro lado, o cinema é uma arte. Ou está desde sempre em vias de se tornar uma, com todo um novo tipo de aura — independentemente de ser relativo o seu êxito na tentativa de “transformar o próprio conceito de arte da maneira mais encantadora possível” (Paul Valéry, citado por Benjamin). O que permanecerá uma tentativa, ainda que encantadora. A autoridade sobre conceitos como “arte”, “mídia”, “alta ou baixa cultura” — ou pelo menos algum grau de influência na maneira como são formulados — já não está mais nas mãos do cinema.
Em 1971, ano da Salomé de Werner Schroeter, o cineasta norte-americano Hollis Frampton já encontrara uma imagem contundente para tudo o que tinha acontecido e para tudo o que ainda estaria por vir. Em seu ensaio Para uma meta-história do filme, ele escreve:
“Em geral, a única coisa que sobrevive intacta a uma era é a forma de arte que ela inventa para si. Dos tempos neolíticos restam fragmentos de cerâmica e montes de entulho, mas a prática da pintura continua ininterrupta desde Lascaux até nossos dias. Podemos supor que a música nos vem de uma idade ainda mais remota, em que as primeiras cordas eram extraídas do sistema nervoso dos vertebrados. Originalmente essas invenções tinham por objetivo a pura sobrevivência. O rouxinol canta para seduzir as damas. As pinturas rupestres presumivelmente ajudavam na caça; poemas, diz Confúcio em Analectos, ensinam o nome dos animais e das plantas. Para a nossa espécie a sobrevivência depende disto: ter a informação precisa na hora certa. Quando uma era se dissolve lentamente na seguinte, alguns indivíduos metabolizam os antigos meios de sobrevivência física transformando-os em novos meios para sobrevivência psíquica. Estes últimos são o que nós chamamos de arte. Eles promovem a vida da consciência humana alimentando nossas afeições, reencarnando nossa essência perceptiva, afirmando, imitando, reificando o próprio processo da consciência. O que estou sugerindo, em termos muito simples, é que nenhuma atividade se transforma em arte antes que sua época tenha terminado e que, enquanto forma de auxílio à simples sobrevivência, tenha caído em total obsolescência. Nasci durante a Idade das Máquinas. (…) O cinema foi a forma de sobrevivência característica da Idade das Máquinas. Junto com o subconjunto das fotografias fixas, ele preenchia funções preciosas; ele nos ensinava e nos lembrava (após demora que parecia então tolerável) a aparência das coisas, seu funcionamento, como fazê-las… e, é claro, por exemplo, como sentir e pensar. Acreditávamos que isso continuaria eternamente, mas quando eu ainda era um garotinho a Idade das Máquinas acabou. Não nos deveríamos deixar enganar pelo abridor de latas elétrico; pequenas máquinas proliferam agora como se fossem passar de moda porque é exatamente isso o que está acontecendo. O cinema é a Última Máquina. É provavelmente a última arte que vai atingir o intelecto através dos sentidos.”1
Nas quatro ou cinco décadas desde o fim da Idade das Máquinas, passou-se a investir mais intensamente na preservação histórico-cultural do cinema. No entanto, aos filmes atribuiu-se o estatuto de meros objetos ou de conteúdos passíveis de serem acondicionados de forma arbitrária, tendo sido mal compreendidos em vez de devidamente reconhecidos como eventos temporais produzidos por máquinas e com função de contenção própria, o que fez com que fossem relegados à imobilidade, ao silêncio e à inatividade do arquivo — salvo por alguns poucos espaços de exibição destacados e algumas poucas atividades de programação fora da norma. Porque a forma fílmica perdeu seu lugar no cinema, que agora opera mediante outro suporte. O mais recente, um formato de arquivo denominado Digital Cinema Package (DCP), é apenas uma dentre as muitas faces da hipermídia que hoje abrange o mundo inteiro e que, à luz das transformações que ultimamente têm abalado as formas da experiência cotidiana e sua base socioeconômica, consolidou-se como regime quase hegemônico — e que, por sua vez, já se deixa levar pelas próprias utopias (como aquela que busca alcançar o espírito por estímulos outros que não os sensoriais). A essa hipermídia, os filmes só têm utilidade como algo amorfo, como algo “fílmico” liberto de quaisquer amarras ou observâncias, ou seja, como conteúdo — à semelhança do que, em tempos passados, o cinema fez ao se apropriar do “teatral” no teatro ou do “romanesco” no romance para articular suas próprias formas de remediação; acabando por eventualmente relegá-los (o teatro e o romance) à obsolescência, pelo menos no que dizia respeito ao seu estatuto enquanto expressões formais autossuficientes.E o cinema continua a perder público. É cada vez menos requisitado. As pessoas se deslocam, junto com o “fílmico”, para outros lugares, para outras constelações midiáticas e por vezes até de volta às formas de arte mais tradicionais, como se pode perceber, por exemplo, na presença muito volumosa de imagens em movimento incorporadas em palcos ou exposições. Porque as condições se inverteram: o setor cultural e midiático e a indústria digital tomaram para si tudo aquilo que do “fílmico” podia ser explorado (da mesma forma que já haviam se apropriado de aspectos do cinema enquanto indústria cultural, do star system aos medidores de sucesso e ao Oscar, passando pelo marketing). Poder-se-ia falar de uma atomização do cinema, ao mesmo tempo que também ficamos com a impressão de sua propagação total: uma dominação global e epidêmica de tudo que, no sentido mais amplo, evoca o cinema. E pulverizado, fragmentado em um número cada vez maior de gotículas cada vez menores, ainda se encontra o que um dia foi designado como cultura cinematográfica, cinefilia ou “intelectualidade fílmica” (mas sem qualquer chance de conquista global em sua própria esfera).

Para muitos, esta é a utopia fílmica em sua forma atual. Ela teria então, como outras utopias antes dela, se curvado ao que há de mais novo no presente — à ânsia de dominação da parte do que há de mais novo no presente —, para enfim sair das sombras em direção à luz. Dessa forma, ela teria cumprido a promessa feita pelo cinema e, é claro, também traído-a em grande parte. Parece tolo ou até mesmo sem sentido ficar lamentando isso sob uma perspectiva culturalmente conservadora (como o fazem atualmente, em seu campo, tantos representantes da “cultura do livro” e do comércio livreiro). Em vez disso, há boas razões para tomar de Siegfried Kracauer o “pequeno messianismo da espera” (Karin Harasser) como modelo e continuar — no que se refere ao “fílmico” e tudo o mais — a explorar futuros possíveis ou ainda não desabrochados, inclusive aqueles futuros oriundos do passado. Um pouco como fizeram Jean-Luc Godard, Chris Marker, Thom Andersen ou Harun Farocki, cada qual ao seu modo, em suas respectivas “meta-histórias do cinema” ao longo dos últimos 40 anos.Karin Harrasser: “Kracauer busca tornar visível um terceiro caminho: o da espera, essa ‘abertura hesitante’ em direção a algo que ainda permanece incognoscível. Ele entende a espera como uma espécie de exercício espiritual, uma prática voltada a tornar perceptível a heterogeneidade do presente; um modo de pensar que não se restringe às esferas teóricas, mas que procura identificar, no presente e no passado, os fragmentos que terão feito diferença no futuro. Kracauer já é aqui o historiador de quem trata seu último livro (“Geschichte — Vor den letzten Dingen” ou “History — The Last Things Before the Last”): alguém que, na antessala das últimas coisas, recolhe os processos perdidos do curso da história, a fim de alinhá-los em uma constelação que venha a tornar visível uma saída. E se nos muníssemos de uma atenção capaz de buscar no presente aquilo que mais adiante terá feito a diferença? E se então pudéssemos intensificar, ampliar, desacelerar ou acelerar esses momentos? Dessa forma, não seria possível fazer com que algo se manifeste como presença efetiva?”²
Tradução: Lucas Saturnino. Originalmente publicado em: https://www.perlentaucher.de/essay/die-utopie-film-alexander-horwath-ueber-das-versprechen-des-kinos.html
___________
1 Tradução de Livia Flores para a revista Arte & Ensaios, v. 21 n. 21 (2010).
2 O presente texto foi elaborado a partir de um convite da Ópera Estatal da Baviera, como contribuição para o programa da peça Orlando Paladino, de Joseph Haydn, dirigida por Axel Ranisch.
Algumas notas sobre uma “Utopia do filme”
por Alexander Horwath
Este texto foi escrito originalmente para acompanhar o programa de filmes The Clock, or; 89 Minutes of “Free Time”, com curadoria de Alexander Horwath, apresentado no Festival Courtisane de 2021. A seleção de filmes e mais informações podem ser encontradas no seguinte link: https://www.courtisane.be/en/event/selection-16-the-clock

Em dezembro de 1964, aflito com a falta de conscientização (na Alemanha) acerca do que a mídia fílmica tinha alcançado no passado, Alexander Kluge escreveu seu ensaio “A Filme-Utopia”: “Se a literatura não existisse, e se, ao invés de literatura, nós só tivéssemos os catálogos anuais de novos lançamentos de editoras, ninguém seria capaz de imaginar a utopia contida nos trabalhos de Melville, Balzac, Flaubert e Döblin; Joyce seria completamente inimaginável. Quando tratamos de filmes, a imaginação não encontra nenhuma história para se apoiar. A Utopia do Filme ou, em outras palavras, a ideia de que poderia haver algo além do insatisfatório e momentâneo presente do cinema, até agora não foi capaz de se desdobrar. A promessa que a história do filme contém ainda é basicamente desconhecida.”
Desde aquela época, a expansão geral da cultura cinematográfica (museus de cinema, festivais, novos canais de distribuição, transmissão, etc.) contribuiu para uma melhora da situação, ao menos em termos de quantidade. Mas ainda há mais dúvidas que nunca sobre se “a promessa que a história do filme contém” (Kluge) está sendo realmente percebida. Muito se mantém inacessível, e muito só existe numa forma desprovida de contexto, tosada dos seus elementos essenciais e da temporalidade um tanto “resistente” do filme. Esse é o motivo de ainda haver a necessidade de trazer à tona a pouco conhecida promessa do filme, e fazê-lo de forma que mantenha essa promessa resgatável – viva, útil, política em essência. Eu arriscaria dizer que os modos atuais de encaixar imagens-movimento em todo e qualquer domínio da vida e de alinhar o “fílmico” com as estruturas temporais dominantes da sociedade representam o oposto da utopia do filme – e também o oposto das qualidades “heterotópicas” do cinema descritas por Foucault.
Além dessa premissa básica, a utopia do filme também reside num entendimento do cinema que permita a suas formas amplamente diferentes – e suas amplamente diferentes formas de inteligência e beleza – coexistir de maneira produtiva. Essa noção não mede o cinema apenas pelo olhar dos longa-metragens narrativos (como muitos discursos cinéfilos fazem, sem mencionar a retórica utilizada pela indústria de cinema). Se alguém se envolve verdadeiramente com os vários tipos de cinema – “longa-metragem”, “documentário”, “curta-metragem”, “filme caseiro”, “noticiário”, “filme de artista”, “filme publicitário”, etc. – fica aparente que uma compartimentalização tão estrita é apenas uma forma de manter os potenciais transgressivos do filme à distância. Qualquer um que não queira simplesmente copiar o discurso industrial de vendas que tenta definir o cinema desde seu começo pode facilmente atingir esta compreensão. O filme não era só uma nova forma de arte; o filme não era só um novo espetáculo para consumo; o filme não era só uma nova linguagem para a produção de ideologia; o filme não era só uma nova forma de documento histórico; o filme não era só uma nova ferramenta científica para penetrar o mundo visível: como uma nova tecnologia cultural da era industrial, era todas essas coisas ao mesmo tempo. E seu legado permanece conosco, em cada grande filme que aparece (indiferentemente de se encaixar em apenas uma dessas funções).
Para repassar esse legado ao futuro, será necessário manter a “impura constituição genética” do cinema intacta, assim como é necessário manter intactos os parâmetros tecnológicos-estéticos (seu “código genético”) pelos quais a mídia fez sua impressão no mundo.
* * *
E sim: a utopia do filme é a utopia de uma realidade que se recusa a ser encenada (Jean-Louis Comolli); mas é igualmente a utopia de um artefato que se recusa a ser confundido com a realidade.
(Tradução: João Lucas Pedrosa)
Fotos das filmagens de Henry Fonda para Presidente
por Alexandre Horwath, Michael Palm e Regina Schlagnitweit
Pesquisa e filmagem, 5 a 18 de abril de 2019




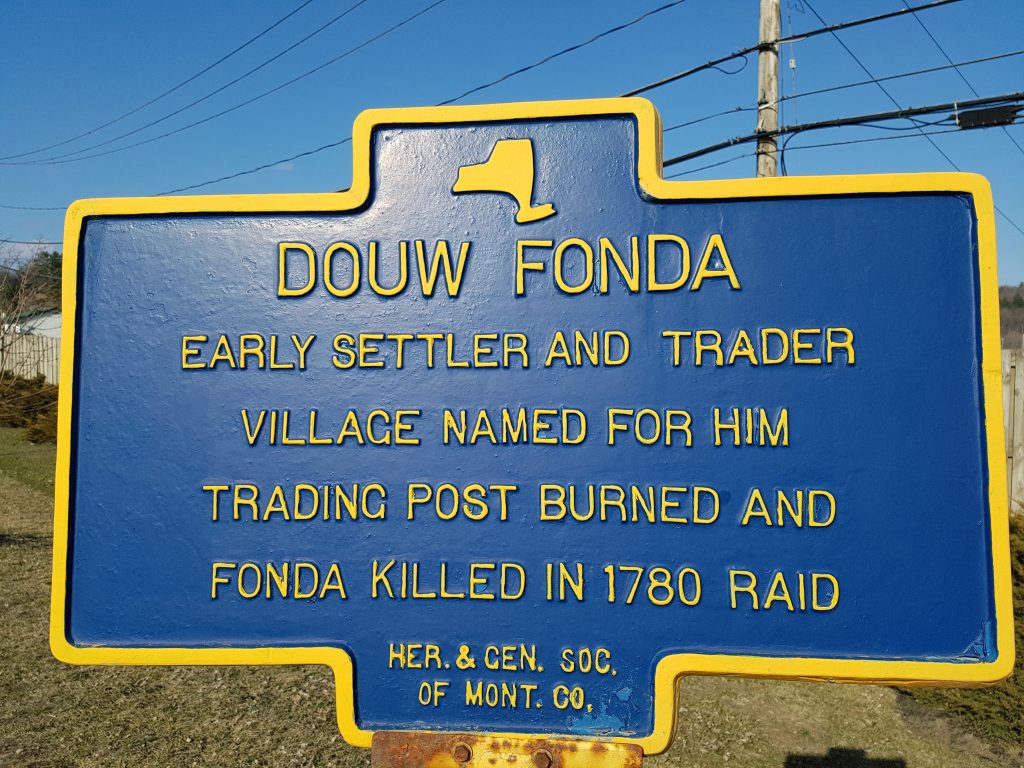


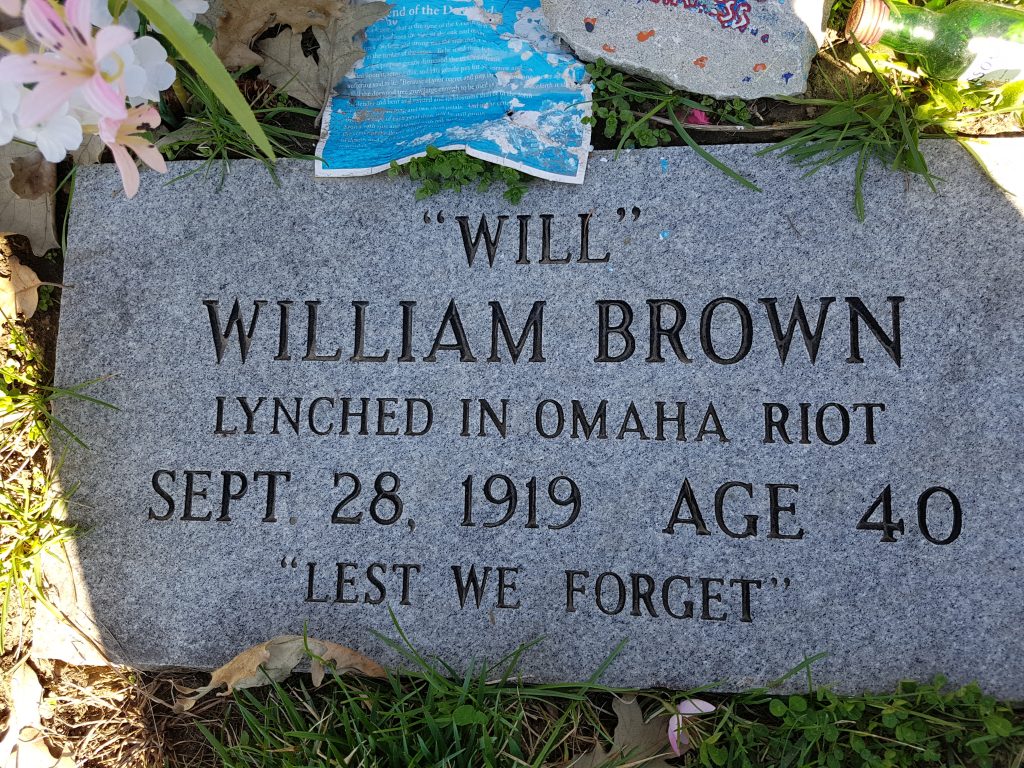







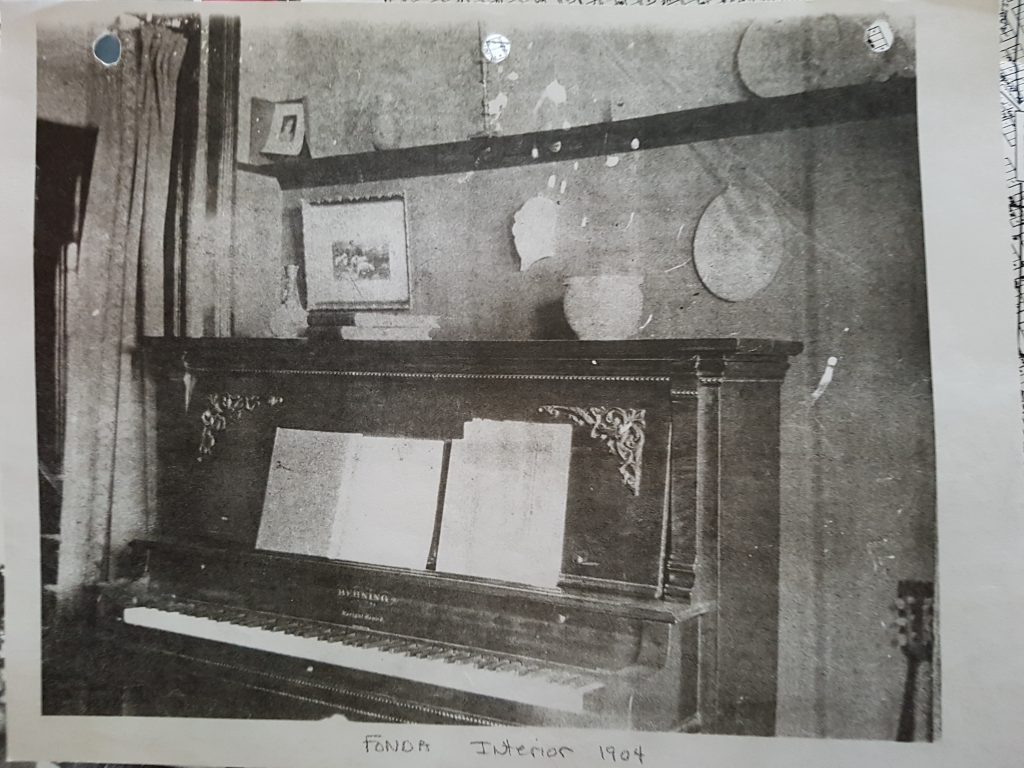




















Filmagem, 1 a 18 de setembro de 2021

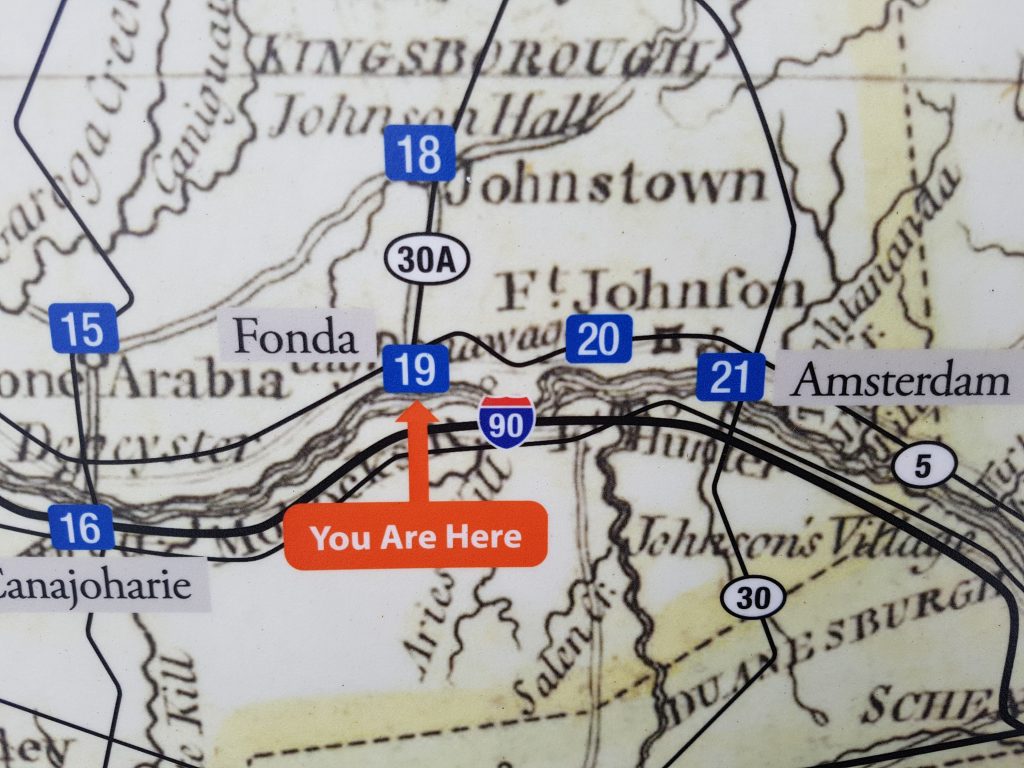







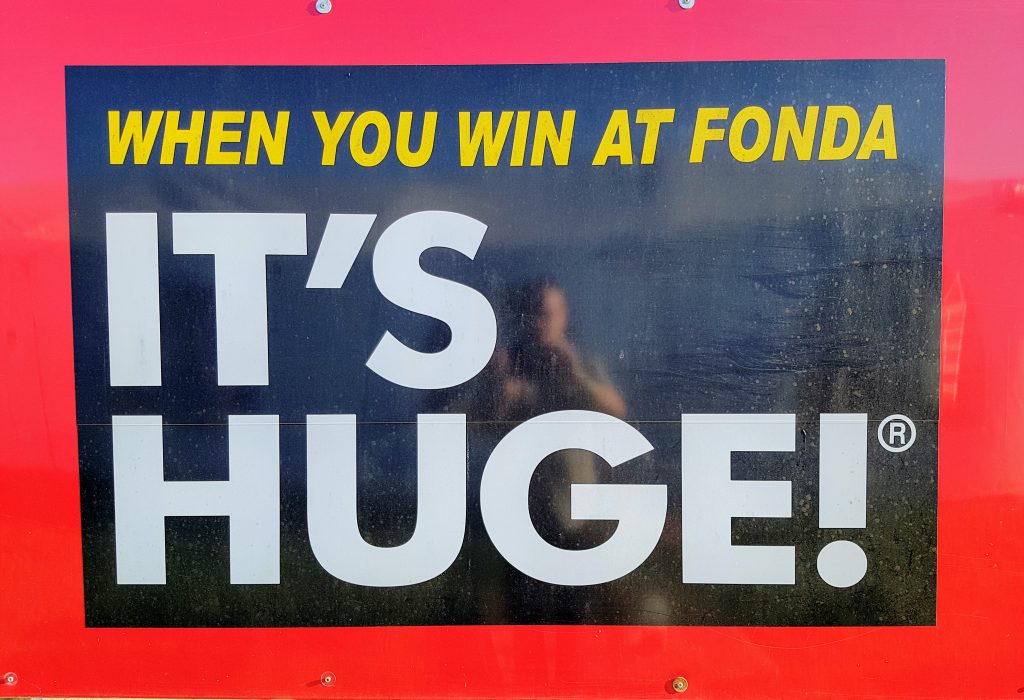




















Este dossiê acompanha a Sessão Babel que a Cinemateca do MAM promove em junho de 2025.