Durante o primeiro semestre de 2021, a artista visual Moara Tupinambá e a museóloga Barbara Xavier trocaram cartas em que dialogam sobre suas experiências com a instituição museu e de como tudo isso perpassa suas identidades.
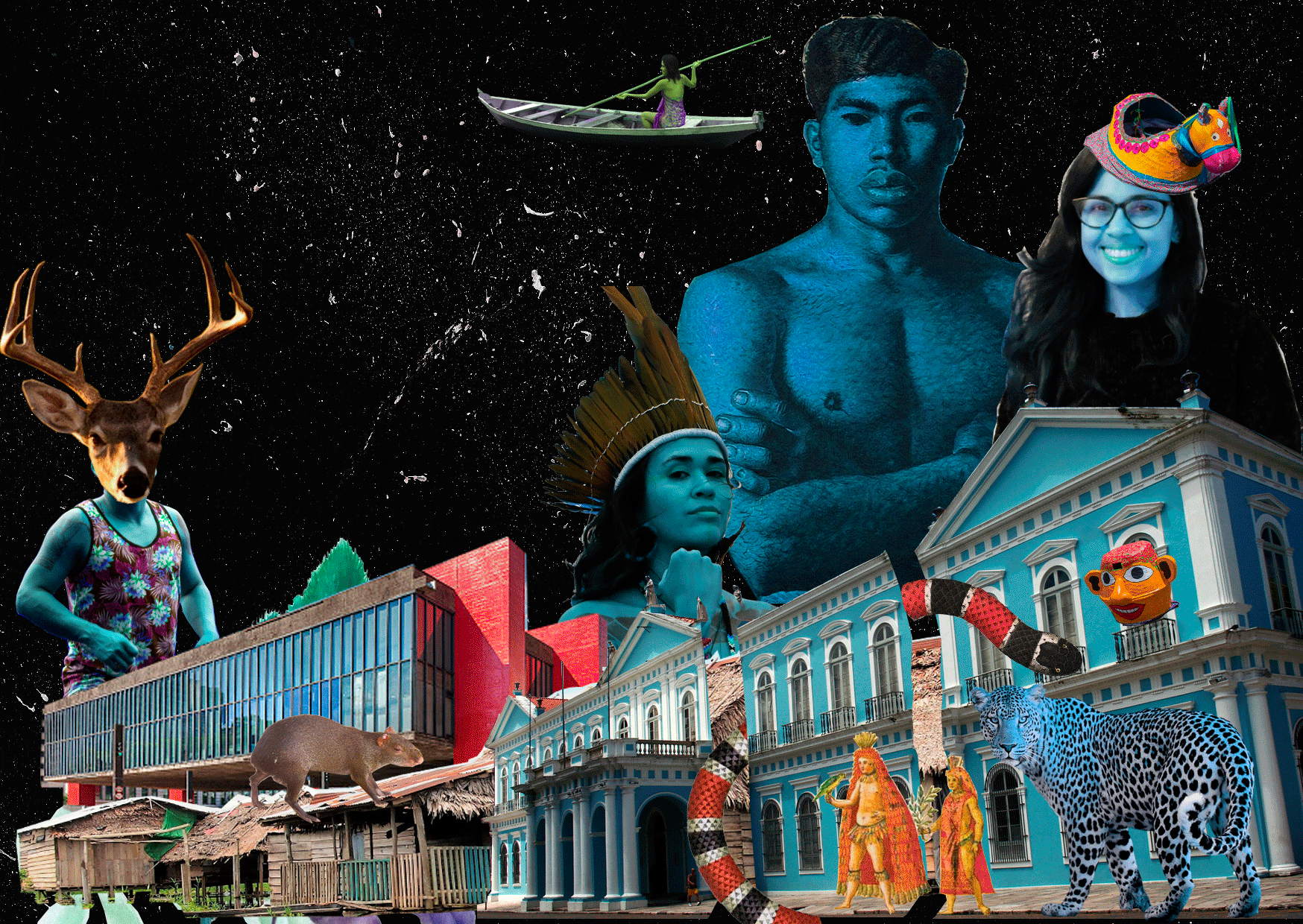
CARTA 1
São Paulo, 26 de junho de 2021
Oi, Moara!
Eu andei pensando aqui em casa várias coisas e resolvi escrever uma carta. Lembrei- me que li em algum lugar que as cartas são uma forma de preservar, e que, para alguns literários, seria uma espécie de “auratizar” um objeto quase destinado ao desaparecimento, revelando uma certa preocupação em guardar a memória de um tempo. E acho que faz sentido com o que eu andei pensando, e que tem relação com museu, memória e identidade, sobre a nossa relação nesse meio e de como essas coisas nos atravessam.
Lembro-me da primeira vez que eu entrei em um museu, eu deveria ter por volta de uns 10-11 anos de idade, estava cursando a 4ª série do ensino fundamental, em uma escola municipal do meu bairro, no município de Ananindeua, no estado do Pará. Eu não fazia ideia do que era um museu, e nem o que havia lá. Quando adentramos aquele espaço, foi tudo mágico e encantador, uma pessoa nos apresentou a exposição de Candido Portinari, não sei exatamente de qual coleção, mas eu lembro de ter ficado maravilhada com tudo. Esse ano foi por volta de 1999 e, a partir daquele momento, muita coisa mudou.
Mesmo eu tendo passado anos sem pisar em um museu, as palavras arte e museu me acompanharam, de uma forma um tanto sedutora, até que, em 2009, dez anos após aquela minha ida ao museu, resolvi candidatar-me ao vestibulinho para o curso técnico de Guia de Turismo, no Instituto Federal do Pará. Passei, e minha relação com as artes, museus, patrimônios, se estreitou. No sentido de saber e me aprofundar mais nos assuntos. Porém entrei, com uma intenção de aprender mais sobre a minha cidade e sua história, porque, apesar de ter nascido em Belém, eu não me criei lá, parte da minha infância foi em um vilarejo localizado no Amapá, Laranjal do Jari, sem muito contato com a cidade. Isso explica o fato de, até os onze anos de idade, eu nunca ter ido a um museu.
As aulas no curso de Guia de Turismo eram sempre muito legais. Falávamos sobre a Amazônia, sobre a nossa cultura indígena, que é fortemente presente, e de como essa singularidade chamava a atenção do setor do turismo. Percebemos que tínhamos que nos apropriar daquilo para mostrar a nossa cidade, linda e maravilhosa, mas sempre tão visada pelo capital e a exploração dos recursos naturais. Eu tinha uma visão romântica e pouco crítica sobre esse cenário. Acreditava que “o turismo salvava”, que nos tiraria de um patamar de “lugar esquecido” pelo resto do Brasil, de certa falta de autoestima etc. E foi com esse pensamento também que eu entrei, em 2011, no curso de Museologia na Universidade Federal do Pará (UFPA).
Durante o curso de Museologia eu tive contato com muitos textos acadêmicos, livros, que me ajudaram a entender o que é um museu, o seu valor social, a sua importância de salvaguarda, preservação do patrimônio e valorização dos saberes, e também sobre o que seria patrimônio cultural imaterial, material, tombamento, IPHAN, ICOM, e tantos outros. Apesar disso, eu ainda era muito apaixonada, e não conseguia entender as violências simbólicas que a academia e as pesquisas antropológicas cometiam comigo e com os meus parentes, com investigações irresponsáveis, no sentido de apropriação de saberes e de uma relação sem trocas, mas da preservação da estrutura dominante e dominado, levando conceitos e receitas prontas, que às vezes na intenção de contribuir, acabavam atrapalhando na dinâmica das comunidades.
Outro ponto que percebi posteriormente foi o de como o museu é uma instituição rígida e fossilizada. É nesse sentido que surge o meu encontro com a museologia social, os estudos a respeito da descolonização, sobre os movimentos de repatriação, da continuidade de diálogos para além do período de pesquisa de campo etc. Ir ao museu e visitar reservas técnicas já não era mais tão confortável para mim, e eu cheguei à conclusão de que precisávamos mudar as nossas formas de se pensar museu e de repensar as nossas práticas artísticas e curatoriais. E isso seguiu, até que, no ano de 2019, resolvi ir à São Paulo em busca de oportunidades, e me deparo com novas questões.
Eu, um dito “corpo diferente” no meio de uma cidade enorme, com milhões de pessoas, de diversos lugares. Foi neste momento em que as coisas começaram a me apertar, e senti a necessidade de me entender enquanto uma pessoa racializada. Percebi que eu era enquadrada em um lugar que, até então, não era uma questão pra mim, que eu não sentia a urgência de pensá-lo, visto que em Belém eu me relacionava com pessoas iguais a mim, o que não gerava estranheza e indagações. Porém, em São Paulo, tudo vira uma novidade, o meu sotaque, o meu modo de vestir, e, até os meus hábitos e formas de me relacionar. E fui percebendo um certo fetiche, um imaginário a respeito da região Norte e dos originários de lá, e cada vez, ficava mais evidente que se criou uma ficção aqui do que é “ser” de lá.
Foi quando a gente se encontrou, lembra? E eu fui através de ti adentrando na área da Cultura de SP, através do Espaço Colabirinto, foi quando eu me aproximei ainda mais do meio da arte contemporânea, especificamente e comecei a estudar sobre questões identitárias, territoriais e, da tão falada, descolonização. No Colabirinto, tentávamos, de todas as maneiras, sermos e promovermos um espaço inclusivo, antifascista e que contribuísse para uma sociedade mais igualitária. Não sei se te tinha dito, mas foi a partir daí que eu comecei a questionar e a interrogar os espaços, e a entender a importância de diálogos interculturais em espaços institucionais das artes. Para não cometermos os mesmos erros e violências com grupos minoritários, por me enxergar como parte deste grupo, foi necessário que, neste momento, eu me aproximasse efetivamente dos movimentos indígenas. Por influência tua, que a essa altura estava com a pesquisa a respeito de sua origem e ancestralidade, eu me senti um pouco mais confortável, pois eu também queria entender a minha história e me ver como parte daquele grupo. As coisas ficaram cada vez mais intensas, e a vontade de querer mudar as coisas, as formas com as quais os movimentos eram executados, foi crescendo. Foi quando me aproximei das práticas de curadoria produzidas junto ao Colabirinto, e uma delas foi o evento “Agosto Indígena”. O que pra mim, foi um marco. Um grande evento que aconteceu através da colaboração de muitas pessoas indígenas, de diferentes contextos e etnias, foi um divisor de água na minha vida. Enquanto museóloga, senti que nós conseguimos, de alguma maneira, pôr em prática conceitos que aprendi a partir da museologia social. Porém, mesmo com este passo dado, ainda estava longe de ser a melhor forma de executar um projeto. Mas, já era um caminho, você concorda? E no meio disso, eu também estava tentando me entender, lidando com questões de identidade que me geravam inseguranças, e até uma certa resistência pessoal, que me fazia, em certos momentos, me enxergar e em outros não me enxergar como pertencente a um grupo. Mas, hoje, entendo que aquilo, de alguma maneira, foi, e é importante.
Atualmente, ouve-se falar muito sobre as práticas colaborativas como uma forma de descolonização do museu, mas percebo que a prática, muitas vezes, não é executada, e ficamos mais uma vez apenas na teoria. O museu é um lugar que tem sim a capacidade de ensinar, encantar e de nos contar uma história. Porém, essa história que está vigente precisa, urgentemente, ser recontada. A partir disso, volto ao início deste texto, naquele começo em que eu visitei um museu pela primeira vez… Eu gostei, porém, aquilo poderia ter sido potencializado, e não somente romantizado, em questão contemplativa e de encantamento, que eu entendo que a contemplação é um objetivo do museu, mas ele não é apenas isso, ele também pode ser capaz de nos gerar reflexão e críticas. Os museus precisam mudar, precisam rever suas práticas e formas, suas reservas técnicas e acervos. Precisam ser repensados.
Objetos ditos como etnográficos precisam voltar para a soberania de seus povos, chega de seguirem descontextualizados e colocados em contextos que convêm ao discurso hegemônico. Objetos têm vida. O museu tem o poder de comunicar, mas ele precisa ser antes de tudo, decolonial. O museu tem o poder de mostrar culturas, mas ele precisa ser antirracista. O museu tem o poder de ser espaço para educação, mas ele precisa aprender sobre o bem viver. O museu tem o poder de nos proporcionar experiências, mas ele precisa ser inclusivo. O museu tem o poder de nos educar, mas ele precisa ser democrático. Enfim, o museu precisa instigar, construir futuros, pesquisar e transformar.
O museu precisa ser o mundo.
Para ti, faz sentido?
Aguardo respostas,
abraços, prima!
Barbara Xavier
CARTA 2
Campinas, 27 de junho de 2021
Oi prima,
A minha memória não é das melhores. E, para falar da minha relação com o museu em tempos passados, lembro vagamente de uma visita ao museu que foi também através de uma escola, mas eu já era adolescente. Levaram-nos para conhecer os palácios de Lauro Sodré e Antônio Lemos, que foram construídos no século 19, localizados na cidade de Belém. Dois palácios coloniais, o pouco que me lembro foi quando nos pediram para tirar os sapatos – pois não podíamos andar calçados no piso antigo de madeira, daquelas casas coloniais. Eu fui de fato saber mais sobre os museus quando eu comecei a cursar Comunicação Social, na Universidade Federal do Pará (UFPA), lá pelos anos de 2005 a 2009. Comecei a conhecer melhor os museus do centro histórico de Belém, mas, também, de forma bem turística.
Confesso que nunca me senti muito atraída por aqueles museus, eu lembro do cheiro de lugar antigo e do sentimento despertado por aquele local que eu nunca me senti convidada a entrar.
Na verdade eu tinha um pouco de medo de adentrar qualquer construção no estilo colonial presente no centro histórico de Belém. Sempre achei os locais cheios de visagens. Eu gostava mesmo era das ruas da Cidade Velha, e mesmo sem saber muito da história deste centro histórico, eu me sentia atraída por seus becos por trás destas casas coloniais. As ruas do centro histórico de Belém têm uma energia cabana muito forte, a cultura pulsa e minhas melhores memórias são desta rua profana, dos festejos do “Arraial do Pavulagem”, de beber até as 5 horas da manhã no Ver-o-peso, enfim, daquela vida de boêmia.
Quando eu estudei comunicação, na minha conclusão de curso, eu optei por defender uma tese sobre moda e identidade amazônida e foi neste momento que tive uma outra experiência com uma forma de se construir um Museu, foi com o Museu Dica Frazão. Mas apesar da experiência em conhecer este Museu, foi um pouco difícil lidar com o tipo de escrita que meu orientador exigia de mim. Recordo muito bem quando o meu orientador falou pra mim “Moara, você tem uma pesquisa muito boa, mas a sua escrita não é uma das melhores. Já a fulana de tal tem uma escrita muito boa, mas a pesquisa não é tão interessante quanto a sua”. Por que ele me fez esta pergunta? Por que quis me constranger me comparando com esta aluna? Eu fiquei um pouco chateada com essa afirmação dele, mas segui na minha pesquisa sobre a Moda Nativista da Dica Frazão, de Santarém do Pará. Lembro que consegui uma passagem e fui lá conhecer a dona Dica, e lá já existia o Museu Dica Frazão. Resumidamente a dona Dica fazia roupas de uma entrecasca de Buriti, eram roupas e uns chapéus muito bonitos que ela se gabava ao dizer que já havia vendido para uma princesa da Bélgica. Lembro-me de ter perguntado para a dona Dica de como ela arrumava aquela matéria-prima tão bonita e ela me dizia “é segredo, os “índio que me arrumam”.
Aquele Museu da dona Dica me chamou muito a atenção porque ele era o oposto de tudo o que eu conhecia sobre Museus, ele me convidava a adentrar a história de Dica, que nos seus mais de 90 e poucos anos, me contava logo ali na porta da entrada toda a sua história de vida. Havia ali um ambiente familiar, um cuidado que o marido de dona Dica tinha com cada peça, de como ele tratava com carinho cada chapéu, cada objeto, era um museu cuidado pela família de dona Dica. Senti ali um cheiro de floresta, cheiro de bichos e de café com beiju muito bom. Essa foi uma boa experiência que tive com um Museu, defendi a história de dona Dica na minha graduação e da importância de se valorizar uma moda nativista amazônida, eu queria muito ter facilitado com o projeto de dona Dica de realizar o último desfile das roupas dela, mas eu não sabia como fazer isso, desisti e ela se encantou sem ter realizado este sonho.
Após a minha formação em 2009 eu decidi ir pra São Paulo. Na época, eu queria ser uma artista reconhecida, eu estava cansada de Belém, e não conseguia ver uma perspectiva financeira para mim lá. Eu queria estudar as técnicas sudestinas para conseguir atingir os meus sonhos. Porém, eu queria fazer da minha maneira, sempre levando a cultura nativa do Norte. Certa vez, em um dos meus primeiros empregos no sudeste, numa agência de moda, um dos empregados criticou o brinco de pena que eu usava e se dirigiu, sem nenhuma educação, ao meu rosto retirando os meus brincos e falando “você não precisa usar esses brincos para afirmar mais a tua cara de índia !”, e disse que, se eu quisesse trabalhar com moda, eu deveria me vestir como gente. Era muito difícil pra mim acordar cedo, às 7h da manhã, e ir andando do bairro do Paraíso até a Vila Mariana, para ter que lidar com estas pessoas que não levantavam a minha autoestima, eu que me deixavam insegura sobre a minha decisão de ter ido “tentar a vida em São Paulo”.
Em 2013, eu consegui um emprego de “galerina” em uma galeria francesa, em um shopping de São Paulo – inclusive neste lugar eu trabalhei junto com a artista Sallisa Rosa – a qual eu fui me reencontrar somente anos depois. Nosso chefe era um francês que adorava fazer brincadeiras do tipo “de qual tribo vocês vieram?” com um sotaque de gringo e tinha um vício de vigiar todos os nossos passos na loja.
De 2013 a 2015 eu me encontrei e me aceitei artista, como também resolvi me aprofundar na minha história indígena. E a pessoa que me ajudou foi a parente Okinawara Catarina Gushiken, que também estava em um processo de caminho de volta para a sua casa em Okinawa. Em 2015 eu trabalhava como gerente em uma galeria na Rua Oscar Freire, só que graças a Tupãna eu fui demitida e ganhei uma boa rescisão, o que me ajudou a fazer a minha primeira exposição na Sala ilustrada, cujo nome era “Ameríndios” – hoje nunca eu colocaria este nome em alguma exposição minha, pois só agora me descolonizei deste nome colonizador. Nessa primeira fase, eu fui buscar o meu parentesco com o povo Asurini do Trocará, em Tucuruí. E lembro que levei o meu pai para conhecer o Cacique Poraquê e sua família. Antes de ir para este lugar, eu já retratava “índios” de livros de antropólogos e de história sobre os índios do Brasil, eu romantizava e desconhecia a minha história indígena familiar. Cheguei na aldeia e fiquei impressionada ao ver que eu havia criado um imaginário sobre a cultura indígena aldeada. Os parentes já moravam em casa de alvenaria, seus arcos e flechas agora eram espingardas, não me ofereceram cabeça de macaco pra comer, alguns parentes pintam os seus cabelos de loiro e a música que tocava em alto e bom som era o tecnobrega – nada diferente do que já havia visto nas periferias de Belém do Pará. Coloquei
os parentes num tempo do passado que só existia nos livros narrados pelo colonizador.
Lembro que fiquei muito tocada com os relatos do cacique Poraquê, ele dizia que não havia mais Pajé na aldeia. No entanto, foi em julho de 2019 que eu fiz uma viagem que marcou a minha vida e a minha autoafirmação enquanto mulher indígena, mulher futuramente tupinambá. Antes eu era índia, depois me tornei indígena e tupinambá. E isso se deu com a minha conexão com a minha família e com a criação do “Museu da Silva”. Quando você me pergunta se faz sentido pra mim sobre todas as afirmações que achas sobre o poder do Museu em comunicar, pra mim faz. Quando criei o “Museu da Silva” não foi com intenção de criar um espaço de coleção de artefatos, mas criar uma ruptura, um museu vivo, um museu de um tempo contado pela boca de meus parentes. E que por fim se torna uma memória coletiva que se conecta com várias famílias racializadas da Amazônia. Para tentar curar um pouco de nossas feridas abertas pela colonização a partir de um “puxirum”. Um lugar de acolhimento, de afeto, para que a gente possa contar a nossa história, da mesma forma como a gente cria uma pintura gestual.
Dessa forma questiono: que estereótipos o Museu tem criado sobre o sujeito indígena?
Como o Museu também tem a responsabilidade em matar a nós, indígenas? Como o Museu tem negado a nossa existência no presente? Como o Museu confunde a história da diversidade dos povos deste país? Como o Museu rouba a nossa essência e existência? Como o Museu pode contribuir para que os nossos poucos territórios demarcados e auto demarcados continuem re-existindo? Como o Museu pode ser aliado na luta pela construção de políticas públicas para os povos originários? Como o Museu pode de fato colaborar com uma economia coletiva que reverta para as nossas comunidades e que possam de fato construir narrativas de felicidade para os povos originários nesta ficção de país democrático que chamamos de Brasil?
É isso, prima.
Até breve,
Moara Tupinambá